Inteligência Artificial e a Educação
outubro 27, 2016 § Deixe um comentário

Como retrospectiva, sugiro a leitura dos textos anteriores sobre o assunto. O primeiro, a respeito do “Estudo de 100 anos para a Inteligência Artificial”; o segundo, referente à definição do que é IA; o terceiro, abordando as tendências; e o quarto a respeito do impacto no mercado de trabalho. Este é o último texto da série e aborda um dos temas mais estratégicos, pelo menos no meu entendimento, na priorização do planejamento de pessoas, organizações e países: a educação.
Dediquei boa parte da minha carreira à área de educação corporativa – sou um daqueles caras de “treinamento” que boa parte dos que trabalham em empresas de médio e grande porte já deve ter cruzado por aí. Sei que muitos “torcem o nariz” para o uso do termo “educação” em associação com a palavra “corporativa”, mas a verdade é que, com a já conhecida (enorme) lacuna na qualidade da formação educacional em nosso país, boa parte das empresas decidiu investir elas mesmas na formação do funcionário, muitas vezes indo além de conhecimentos e habilidades específicas para o seu negócio e ajudando-os em formação básica. Desta forma, em minha opinião, contribuindo para a própria educação do brasileiro. Para atuar neste ambiente, passei anos “consumindo” tudo o que pude encontrar em relação a métodos educacionais. Quando comecei a “me envolver” com machine learning, tive a grata surpresa de perceber que muitos dos conceitos que aprendi a respeito do aprendizado de gente, podia também ser aplicado ao aprendizado de máquinas. Faço esta introdução apenas para contextualizar a minha relação com o tema.
Desde os projetos Lego Mindstorms, desenvolvidos pelo MIT Media Lab a partir dos anos 1980, robôs têm se tornado ferramentas educacionais populares. Cabe aqui atribuir o crédito devido ao matemático Seymour Papert, guru de muita gente (inclusive meu), por conta do seu trabalho envolvendo o uso de tecnologias no aprendizado de crianças desde os anos 1960. Papert foi fundamental para o desenvolvimento do conceito de aprendizado multimídia, hoje parte integrante das teorias do aprendizado, assim como na evolução do campo da Inteligência Artificial.
Este caldo de ideias estimulou o desenvolvimento de diferentes frentes de atuação da IA aplicada à educação. É importante deixar claro, desde já, que nenhuma destas frentes descarta a importância da participação do ser-humano como vetor do ensino. Como citei no texto anterior, referente ao impacto no mercado de trabalho, IA pode aumentar o escopo do que é considerado tarefa de rotina, mas definitivamente o papel do professor não está entre elas. Ferramentas como os Intelligent Tutoring Systems (ITS), campos de atuação como Natural Language Processing ou aplicativos como os de Learning Analytics têm como objetivo ajudar os professores em sala de aula e em casa, expandir significativamente o conhecimento dos alunos. Com a introdução da realidade virtual no repertório educacional, por exemplo, o impacto da Inteligência Artificial no aprendizado do ser-humano deve ser de tal ordem que “periga” alterar a forma como o nosso cérebro funciona (é claro que este impacto ainda é suposição). Creio que a melhor maneira de abordar este assunto, é por meio de exemplos. Vou associá-los aos tópicos principais de IA aplicada à educação. Sempre que o exemplo vier acompanhado de um link, pode clicar. São informações adicionais sobre o assunto ou vídeos tutoriais sobre alguma ferramenta. Se por acaso ocorrer algum rickrolling, me avisem.
Robôs tutores
Ozobot, é um robozinho que ajuda crianças a entenderem a lógica por detrás da programação e a raciocinar de maneira dedutiva. Ele é “configurando” pelas próprias crianças, por meio de padrões codificados por cores, para dançar ou andar. Já os Cubelets auxiliam a criança a desenvolver o pensamento lógico através da montagem de blocos robôs, cada um com uma função específica (pensar, agir ou sentir). Os Cubelets têm sido usados para estimular o aprendizado de STEM.
Dash, é o robô oferecido pela Wonder Workshop, que permite apresentar crianças (e adultos) à robótica. É possível programar as ações do robô por meio de uma linguagem de programação visual desenvolvida pela Google, chamada Blockly ou mesmo construir apps para iOS e Android, usando linguagens mais parrudas como C ou Java.
Por fim, o PLEO rb é um robô de estimação, criado para estimular o aprendizado de biologia. A pessoa pode programar o robô para reagir a diferentes aspectos do ambiente.
Intelligent Tutoring Systems (ITS)
Os ITS começaram a ser desenvolvidos no final do século XX por vários centros de pesquisa, para auxiliar na resolução de problemas de física. A sua força sempre esteve na sua capacidade de facilitar o “diálogo” humano-máquina. Ao longo destas primeiras décadas do século XXI, começou a ser utilizado para o ensino de línguas. Carnegie Speech e Duolingo são exemplos da sua aplicação, utilizando o Automatic Speech Recognition (ASR) e técnicas de neurolinguística para ajudar os alunos a reconhecerem erros de linguagem ou pronúncia e corrigi-los.
Também têm sido usados para auxiliar no aprendizado de matemática, o Carnegie Cognitive Tutor foi adotado por escolar norte-americanas para este fim. Outros similares (Cognitive Tutors) são usados para o aprendizado de química, programação, diagnósticos médicos, genética, geografia, dentre outros. Os Cognitive Tutors são ITS que usam softwares que imitam o papel de um professor humano, oferecendo dicas quando um estudante fica com dificuldade em algum tópico, como por exemplo, um problema de matemática. Com base na pista solicitada e a resposta fornecida pelo aluno, o “tutor” cibernético oferece um feedback específico, de acordo com o contexto da dúvida.
Um outro ITS chamado SHERLOCK, desde o final da década de 1980 ajuda a Força Aérea Americana a diagnosticar problemas no sistema elétrico de suas aeronaves. Quem quiser conhecê-lo mais, sugiro este paper publicado nos primórdios da internet (não se assustem com o design).
Mas as grandes “estrelas” na constelação dos ITS são definitivamente os MOOCs (Massive Open Online Courses). Ao permitirem a inclusão de conteúdos via Wikipedia e Khan Academy e de sofisticados Learning Management Systems (LMS), baseados tanto em modelos síncronos (quando há prazos para conclusão de cada fase do curso) quanto modelos assíncronos (quando o aprendiz vai no seu ritmo), os MOOCs têm se tornado a ferramenta de aprendizagem adaptativa mais popular.
EdX, Coursera e Udacity são exemplos de MOOCs que se “alimentam” de técnicas de machine learning, neurolinguística e crowdsourcing (também conhecida em português como colaboração coletiva) para correção de trabalhos, atribuição de notas e desenvolvimento de tarefas de aprendizado. É bem verdade que a educação profissional e a de ensino superior são as maiores beneficiárias deste tipo de ITS (em comparação com os ensinos básico, médio e fundamental). A razão disto, é que o público delas, até mesmo por ser geralmente composto por adultos, tem menos necessidade de interação cara-a-cara. Espera-se que com um maior estímulo ao desenvolvimento da habilidade de metacognição, os benefícios oferecidos por estas plataformas possam ser distribuídos mais democraticamente.
Learning Analytics
Também já se sente o impacto do Big Data em educação. Todas as ferramentas apresentadas geram algum tipo de log ou algum tipo de registro de dado. Assim como aconteceu no mundo corporativo com BI (Business Intelligence) e BA (Business Analytics), a geração maciça de dados advindos da integração de IA, educação e internet, fez surgir a necessidade de se entender e contextualizá-los para melhor aproveitar as oportunidades e insights potencializados por eles. Com isto, o campo chamado Learning Analytics tem observado um crescimento em velocidade supersônica.
A bem da verdade, é que cursos online não são apenas bons para a entrega de conhecimento em escala, são veículos naturais para a armazenagem de dados e a sua instrumentalização. Deste modo, o seu potencial de contribuição para o desenvolvimento científico e acadêmico é exponencial. O aparecimento de organizações como a Society for Learning Analytics Research (SOLAR) e de conferências como a Learning Analytics and Knowledge Conference organizada pela própria SOLAR e a Learning at Scale Conference (L@S), cuja edição de 2017 será organizada pelo MIT, refletem a importância que está se dando a este assunto em outras “praias”. IA tem contribuído para a análise do engajamento do aprendiz, seu comportamento e desenvolvimento educacional com técnicas state-of-the-art como deep learning e processamento de linguagem natural, além de técnicas de análise preditivas usadas comumente em machine learning.
Projetos mais recentes no campo de Learning Analytics têm se preocupado em criar modelos que captem de maneira mais precisa as dúvidas e equívocos mais comuns dos aprendizes, predizer quanto ao risco de abandono dos estudos e fornecer feedback em tempo real e integrado aos resultados da aprendizagem. Para tanto, cientistas e pesquisadores de Inteligência Artificial têm se dedicado a entender os processos cognitivos que envolvem a compreensão, a escrita, a aquisição de conhecimento e o funcionamento da memória e aplicar este entendimento à prática educacional, com o desenvolvimento de tecnologias que facilitem o aprendizado.
O mais incauto pode se perguntar por que com tecnologias de IA cada vez mais sofisticadas e com o aumento do esforço no desenvolvimento de soluções específicas para educação, não há cada vez mais escolas, colégios, faculdades e universidades os utilizando?
Esta resposta não é fácil e envolve diversas variáveis. A primeira delas está relacionada ao modelo mental da sociedade e ao quanto esta sociedade preza o conhecimento. Há locais em que a aplicação da IA em educação está mais avançada, como por exemplo a Coreia do Sul e a Inglaterra e outros em que já se está fazendo um esforço concentrado para tal, como por exemplo Suíça e Finlândia. Não por acaso, são países em que há bastante produção de propriedade intelectual. A segunda delas, envolve o domínio na geração do conhecimento e na sua aplicação em propriedade intelectual. Nesta variável, segue imbatível os EUA, que são responsáveis por boa parte do conhecimento produzido pelo ser-humano. Novamente, não por acaso, são os líderes no desenvolvimento do campo de IA. A terceira variável, como não poderia deixar de ser, é o custo. Não é barato e como dinheiro é um recurso escasso em qualquer lugar (em uns mais do que em outros, claro) é preciso que haja uma definição da sociedade em questão quanto às suas prioridades para se fazer este investimento. A quarta, está ligada ao acesso aos dados produzidos por estas iniciativas educacionais e as conclusões geradas. Embora haja fortes indícios de que a tecnologia impulsionada pela IA realmente impacta positivamente no aprendizado, ainda não há conclusões objetivas em relação ao tema – muito por conta da sua recência. E como o investimento é alto, são poucos os que topam ser early adopters.
De qualquer forma fica a questão, vale a pena? Quanto a isto, gosto de citar meu ex-chefe, Edmour Saiani. Sempre quando perguntado se devíamos treinar alguém, ele respondia: “se lembre que o problema nunca é você treinar a pessoa e ela sair da empresa, o problema é você não treinar e ela ficar”. Neste tipo de caso, não fazer nada é a pior opção.
Inteligência Artificial, essa incompreendida
setembro 21, 2016 § 3 Comentários
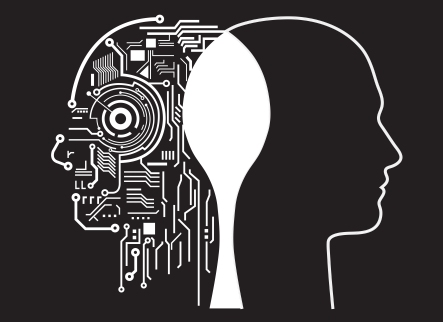
Em um texto anterior comentei a respeito do “Estudo de 100 anos para a Inteligência Artificial” e fiz uma pequena introdução do primeiro relatório produzido pelo painel de especialistas. Também terminei o texto convidando o leitor a compartilhar as suas impressões. Muito dos feedbacks que recebi giraram em torno do que afinal é IA (o título, inclusive, foi sugestão de um dos leitores). Não me refiro ao conceito popular, dos filmes – que invariavelmente a apresenta como ex-machina (que explicarei rapidamente ao final do texto) – mas o seu conceito “acadêmico”. Minha intenção é tentar explicá-lo neste texto e nos próximos, abordar com mais detalhes as tendências da Inteligência Artificial e os impactos nas áreas do “emprego e ambiente de trabalho” e “educação”.
Conhecer do que se trata o campo da Inteligência Artificial ajuda a “jogar luz” em um tema que para muitos ainda é ficção científica (embora já seja mais realidade do que nunca) e ajuda a tornar mais real as oportunidades – e as possibilidades de ruptura – que irão influenciar a nossa sociedade.
Em primeiro lugar, é preciso entender porque este assunto vem sendo tratado com tanta importância. Existe uma mudança de modelo econômico em curso no mundo. Desde a primeira revolução industrial, nossa sociedade vem se organizando (sim, os modelos econômicos determinam a forma como a sociedade é) com base em um modelo mental fundamentado em processo de manufatura. É inegável que o modelo industrial estimulou o desenvolvimento tecnológico, social e cultural dos últimos três séculos e modificou a forma como pensamos e enxergamos nosso lugar no mundo. Mas também sedimentou na nossa cabeça, o conceito de que fazemos parte de um processo industrial que tem começo, meio e fim – estudamos, trabalhamos e aposentamos; recebemos estudo fundamental, médio e superior; trabalhamos produzindo insumos, produtos manufaturados ou serviços agregados; namoramos, casamos e temos filhos – os exemplos são inúmeros, a similaridade deles está no seu modelo de processo por etapas.
Embora o modelo industrial esteja em “nosso sangue”, o que possibilitou as revoluções industriais – pelo menos na sociedade ocidental – foram os conceitos iluministas de produção de conhecimento (e que levaram à mudança social máxima da sociedade contemporânea: a separação de Igreja e Estado). A produção do conhecimento, neste estágio, atuou como produto de base da indústria – era encarado como um insumo ou recurso para o fim maior: a produção industrial.
Esta lógica vem se modificando há pelo menos 25 anos. A produção do conhecimento vem deixando de ser um acessório do modelo econômico para se tornar a razão do próprio modelo econômico (talvez o maior exemplo da margem de lucro permitida pela produção do conhecimento seja a Apple com o IPhone – gastou algumas dezenas de milhões de dólares no seu desenvolvimento e faturou em retorno bilhões das “verdinhas” americanas). Cada vez mais, a capacidade de produção de propriedade intelectual vem se tornando a habilidade principal desejada por empresas e o que determina que selecionem alguns candidatos e não outros (isto vem inclusive modificando o processo seletivo em algumas áreas – um exemplo é o processo seletivo da empresa The Information Lab, que paga uma bolsa para os candidatos participarem de um curso de 4 meses e fecha contrato com os que mostrarem as melhores performances quanto à capacidade de produção de propriedade intelectual). É claro que esta é ainda uma realidade distante do Brasil, mas em algum momento teremos que nos inserir neste contexto sob o risco de ficarmos muito (mas muito) para trás.
Desta forma, estamos passando de um modelo econômico focado em produção manufatureira para outro baseado em produção de propriedade intelectual. E a Inteligência Artificial é o diamante desta coroa – afinal ela congrega o que pode vir a ser a própria definição do trabalho do futuro: alta capacidade de cognição humana sendo potencializada pela alta capacidade de cognição artificial.
Quanto à elucidação que prometi, a verdade é que não há uma definição precisa e universalmente aceita para Inteligência Artificial. Curiosamente, foi exatamente por falta desta definição que o campo de estudos floresceu. Ainda assim, uma definição é importante e o professor de ciência da computação, Nils J. Nilsson (Nilsson, Nils J. “The Quest for Artificial Intelligence: A History of Ideas and Achievements”. Cambridge University Press, 2010) fornece uma útil: “a inteligência artificial é a atividade dedicada a fazer máquinas inteligentes. Inteligência é a qualidade que permite que uma entidade possa funcionar de forma adequada e com clarividência no seu ambiente”.
Desta perspectiva, caracterizar IA depende muito do que o ser-humano está disposto a considerar “funcionamento adequado” e “clarividência” em se tratando de hardwares e softwares. Uma simples calculadora eletrônica faz cálculos muito mais rápidos do que o cérebro humano e com muito menos erro. Uma calculadora eletrônica é inteligente? Para responder, precisamos deixar de lado o nosso modelo mental industrial e entender inteligência em um espectro multidimensional (isto quer dizer que há mais do que um tipo de inteligência – vide Howard Gardner).
De acordo com esta visão, a diferença entre uma calculadora eletrônica e um cérebro humano não é de espécie, mas de escala, velocidade, grau de autonomia e generalidade. Estes mesmos fatores podem ser usados para avaliar qualquer instância de inteligência (obviamente, o que o ser-humano considera como inteligência), seja ela natural, artificial (e quem sabe um dia, extraterrestre) e posicioná-la adequadamente dentro do espectro. Softwares de reconhecimento de voz, de geoposicionamento, de controle de navegação de veículos, de termostatos, de jogos go-play (tipo Pokemon) – dentre outros – têm sua inteligência avaliada da mesma forma como a inteligência humana o é. Aprendizagem de máquinas (o machine learning), por exemplo, é avaliada da mesma maneira como é a capacidade cognitiva humana: pela taxinomia de Bloom.
Notavelmente, a caracterização de inteligência como um espectro não concede nenhum status especial ao cérebro humano. Mas é preciso reconhecer que até o presente momento, a inteligência humana não tem correspondência na biologia e nos mundos artificiais em relação à sua pura versatilidade e habilidade para “raciocinar, alcançar objetivos, compreender e gerar linguagem, perceber e responder a estímulos sensoriais, provar teoremas matemáticos, jogar jogos desafiadores, sintetizar e resumir informações, criar arte e música, e até mesmo escrever histórias” (novamente utilizo as palavras do Nilsson).
O grande desafio que uma definição de Inteligência Artificial encontra para se sedimentar na sabedoria popular, é a eterna perda da reivindicação em relação às suas conquistas. Este é um padrão que constantemente se repete desde que o campo surgiu (também conhecido como “efeito IA” ou “paradoxo estranho”). Ocorre da seguinte forma, IA traz à tona uma nova tecnologia, as pessoas se acostumam a esta tecnologia, ela deixa de ser considerada Inteligência Artificial e um novo “mercado” surge. Talvez seja por esta razão que a ideia de IA no imaginário popular esteja relacionada ao conceito de ex-machina. Ex-machina é o santo graal da Inteligência Artificial, o seu objetivo máximo. Criar uma forma de inteligência que se aproxime tanto, mas tanto da inteligência humana, que tenhamos de parar de considerá-la máquina e classificá-la como alguma outra coisa.
Inteligência Digital
setembro 1, 2016 § Deixe um comentário

Não é segredo que temos passado cada vez mais tempo na companhia de aparelhos digitais, seja profissionalmente ou como entretenimento. Para evitar simplificações, vou utilizar a definição dada pelo departamento de ciência computacional e da informação do Brooklyn College para o tipo de equipamento – “é o conjunto de aparelhos que convertem informações em números e permitem seu armazenamento, transporte e compartilhamento”. Estamos “falando” de smartphones, computadores e tablets – mas também de tecnologias mais “antigas” como telégrafo, calculadora, relógio de pulso ou telefone fixo.
Este é um fato que transcende faixa etária. Crianças, por exemplo, passam em média, sete horas diárias em frente a alguma tela digital – segundo artigo da Academia Americana de Pediatria. Para efeito de comparação, é mais tempo do que passam na escola ou em companhia dos pais. Mais do que isto, existe ainda a lacuna – chamada de gap geracional digital – em relação à percepção e uso da tecnologia digital. Crianças e adultos a percebem de forma diferente e esta diferença é hoje o maior “desafio” enfrentado por pais e educadores em relação ao que é apropriado fazer em termos de “educação digital” e mesmo em torno do que é considerado um comportamento aceitável no mundo online.
Alguns conceitos têm surgido para ajudar no entendimento desta realidade. Alguns deles têm saído da academia para assumir a forma de propostas e iniciativas que efetivamente contribuam para a educação dos seres-humanos do século XXI. Uma delas, envolve o conceito de Inteligência Digital e da sua métrica proposta, chamada de coeficiente de inteligência digital.
Inteligência Digital é o conjunto de habilidades sociais, emocionais e cognitivas que permitem aos indivíduos desenvolverem a capacidade necessária para enfrentar os desafios e se adaptar às exigências da vida digital. Essas habilidades podem ser genericamente divididas em oito áreas interligadas. Minha intenção é apresentar rapidamente cada uma delas.
Identidade digital, é a capacidade que um indivíduo tem de criar e gerenciar a sua identidade e reputação digital. Isto inclui a consciência a respeito da sua persona online e a gestão do impacto, em curto e longo prazo, da sua presença na internet.
Uso digital, é a capacidade de usar aparelhos e suportes digitais, incluindo a habilidade de encontrar um equilíbrio saudável entre a vida online e offline. Vale reforçar que este equilíbrio é individual – cada um define o seu – embora as consequências de extrapolá-lo possam ser percebidas de maneira coletiva, como por exemplo, distúrbios psicológicos.
Segurança digital, é a capacidade de “gerenciar” os riscos online, por exemplo, cyberbullying, aliciamento, catfishing (para quem não está familiarizado com a definição, catfish corresponde à pessoa que assume uma falsa identidade na internet), bem como lidar com conteúdos “problemáticos” (como violência e obscenidade). Em resumo, é a habilidade para evitar ou limitar esses riscos.
Proteção digital, é a capacidade de detectar ameaças virtuais (como pirataria, fraudes, malware), entender as melhores práticas de utilização dos conteúdos disponibilizados (conceitos como o de curadoria digital, por exemplo) e do uso das ferramentas de segurança adequadas à proteção de dados.
Inteligência emocional digital, é a capacidade de ser compreensivo e construir boas relações com os outros online.
Comunicação digital, é a capacidade de se comunicar e colaborar com outras pessoas, usando tecnologias digitais e de mídia.
Alfabetização digital, é a capacidade de encontrar, avaliar, utilizar, compartilhar e criar conteúdo digital (novamente envolvendo o conceito de curadoria), bem como a competência em programação computacional e raciocínio lógico, além do desenvolvimento do pensamento crítico.
Direitos digitais, é a capacidade de compreender e defender os direitos pessoais e coletivos, nomeadamente os direitos à privacidade, propriedade intelectual, liberdade de expressão e proteção contra discursos de ódio.
Bom, se prestarmos bem atenção, veremos que a raiz da Inteligência Digital são os valores bem humanos do respeito, empatia, prudência e cidadania – desejáveis em qualquer sociedade. Quem se interessar e quiser implementar o modelo, sugiro a plataforma digital izhero.net, até 31 de dezembro a adesão a ela é gratuita.
Quem se interessar em explorar conceitualmente o assunto, sugiro procurar a seguinte bibliografia.
Barlett, C. P., Gentile, D. A., & Chew, C. (2014). Predicting cyber-bullying from anonymity. Psychology of Popular Media Culture.
Gentile, D. A. (2013). Catharsis and media violence: A conceptual analysis. Societies, 3, 491–510;
Gentile, D. A., Choo, H., Liau, A., Sim, T., Li, D., Fung, D., & Khoo, A. (2011). Pathological video game use among youth: A two-year longitudinal study. Pediatrics, 127, e319-329.
Gentile, D. A., Reimer, R. A., Nathanson, A. I., Walsh, D. A., & Eisenmann, J. C. (2014). A prospective study of the protective effects of parental monitoring of children’s media use. JAMAPediatrics, 168, 479-484 doi:10.1001/jamapediatrics. 2014.146
Maheshwari, Anil. (214). Data Analytics Made Accessible.
Maier, J. A., Gentile, D. A., Vogel, D., & Kaplan, S. (2014). Media influences on self-stigma of seeking psychological services: The importance of media portrayals and person perception. Psychology of Popular Media Culture.
Mithas, Sunil. (2012). Digital Intelligence: What Every Smart Manager Must Have for Success in an Information Age. Finerplanet.
Ostrov, J., Gentile, D. A., & Mullins, A. D. (2013). Evaluating the effect of educational media exposure on aggression in early childhood. Journal of Applied Developmental Psychology, 34, 38-44.
Prot, S. & Gentile, D. A. (2014). Applying risk and resilience models to predicting the effects of media violence on development. Advances in Child Development and Behavior, 46, 215-244.
Tsunami digital
agosto 25, 2016 § Deixe um comentário

Confesso que queria encontrar um título mais impactante – pensei mesmo em chamar de “a quarta revolução industrial” – mas creio que a comparação seria limitada (e incoerente com a observação sociológica que indica a mudança de uma sociedade industrial para uma sociedade baseada no conhecimento). Procurando por uma metáfora, fiquei com a definição do Klaus Schwab (presidente do Fórum Econômico Mundial) – tsunami – se vê pequenos sinais à beira-mar e de repente a onda gigante te engolfa. O mundo digital do futuro (próximo), conduzido pela inteligência artificial, internet das coisas e (não canso de repetir, o cada vez mais famoso) big data têm promovido mudanças tão rápidas e densas que pode ser difícil dar um passo atrás e tentar entender o fenômeno. De fato, as transformações têm um potencial tão esmagador, que ao invés de surfar as ondas, podemos, de repente, nos encontrar “levando um caldo”.
Recomendo a leitura do relatório “Technology Tipping Points and Societal Impact”, publicado pelo Fórum Econômico Mundial, com as tendências, cronograma e o impacto esperado na sociedade promovido pelos 3 condutores mencionados no parágrafo anterior. Quem quiser se preparar para a leitura das 44 páginas do relatório, faço um apanhado geral a seguir do que consta nele. Antes, penso ser necessário dar uma pequena explicação a respeito do motivo pelo qual se “bate” tanto na tecla da importância da tecnologia.
A palavra-chave do “mundo” em que vivemos hoje é interconexão. “Globalização”, “sociedade pós-moderna” e outros termos obscuros que se encontra por aí, tem na sua semântica a integração – seja ela de mercados, de pessoas, de culturas, de países, etc. Tudo é interligado: tecnologia, segurança, crescimento econômico, sustentabilidade e identidades culturais. A mudança tecnológica não é um fenômeno isolado, faz parte de um ecossistema complexo que compreende negócios, ações governamentais e as suas dimensões sociais. Por exemplo, para um país fazer um ajuste para o novo tipo de competição orientada pela inovação e criação de propriedade intelectual, todo o ecossistema tem de ser considerado – não é à toa que no ano passado a Finlândia reformulou o seu sistema educacional com foco no estímulo ao autoaprendizado e embasado principalmente pelo uso da tecnologia e o acesso à internet. Então, se algo muda (ou está mudando constantemente) como no caso da tecnologia, todo o sistema precisa se adaptar para manter-se sustentável.
Sem mais delongas, o que o relatório aponta pode ser resumido, “Zagallomicamente”, em 13 pontos principais:
1) Tecnologias usáveis e implantáveis: alguém se recorda dos tijolões que eram os celulares nos anos 90? E dos diminutos do início dos anos 2000? Por volta de 2025 podemos olhar os smartphones da mesma maneira. Há um certo consenso de que os primeiros celulares implantáveis estarão disponíveis no mercado dentro de 9 anos. Há mais consenso ainda em relação às roupas conectadas à internet.
2) Presença digital: há uns 15 anos, ter “presença” digital significava possuir uma conta de e-mail. Hoje, até nossos avós possuem um login no Facebook, no Twitter ou mesmo um site pessoal. Em 10 anos, cerca de 90% das pessoas no mundo terão alguma forma de presença digital. Com isto, pode-se concluir que 90% da população mundial estará conectada na internet. Não é pouca coisa em relação ao conceito de interconexão que comentei anteriormente.
3) A visão como nova interface: não sei quantos dos que me leem usam óculos. Eu pessoalmente, os uso desde os 13 anos. O que meus olhinhos míopes não esperavam é pela informação de que por volta de meados da próxima década, 10% de todos os óculos do mundo também estarão conectados à internet. Isto quer dizer acesso a apps (ou o que for a onda na época) literalmente ao alcance da vista. Também significa acesso e produção de dados em movimento.
4) Computação onipresente: esta tem a ver com a presença digital (ponto 2). É uma informação complementar. Hoje, por volta de 57% das pessoas do mundo estão conectadas à internet. 90% de conexão também significa a presença quase total dos computadores na vida do ser-humano. Não é por acaso que a inteligência artificial tem estado cada vez mais no centro da atenção de quem cria propriedade intelectual e que conceitos como machine learning, ex-machina e similares veem se tornando pop.
5) Tecnologia móvel: em português brasileiro, “combinamos” de chamar os telefones celulares de “celulares”. Mas em outras praias eles são chamados de telefones móveis e chamo a atenção para a palavra “móvel”. A mobilidade elevou a internet a outro patamar, e não vai perder força ou importância no futuro próximo. Pode-se esperar dispositivos mais sofisticados, mas sempre permitindo mobilidade.
6) Armazenamento para “geral”: em carioquês, para “geral” quer dizer para todos. Em 10 anos, 90% dos que tem acesso à internet, também terão armazenagem ilimitada e gratuita nas “nuvens”. Daqui a pouco quase ninguém terá que se preocupar em apagar foto ou vídeo porque acabou o “espaço” no celular.
7) A internet das coisas e para as coisas: óculos, roupas, eletrodomésticos e acessórios. Durante a próxima década, a previsão é que haja 1 trilhão de sensores conectados ao que usamos normalmente. Espera-se que estes sensores nos ajudem a melhorar a segurança (de alimentos à aviões), aumentar a produtividade (o que quer que isto signifique) e nos ajudar a administrar nossos recursos de maneira mais eficiente e sustentável (mesmo porque sempre precisamos de uma utopia).
8) Cidades e casas inteligentes: alguns hoje já são afortunados o suficiente para ter um ou outro eletrodoméstico conectado à internet (tipo uma smart TV ou um sistema de som). As previsões para a próxima década é levar cerca de 50% do tráfego de internet de uma residência para dispositivos ou aparelhos domésticos como frigideiras, geladeira, ar-condicionado, sistemas de segurança, dentre outros. O impacto em cidades deve-se dar principalmente no controle de sinais de trânsito e transporte público.
9) Big data significa big insight: praticamente todos os países do mundo promovem censos governamentais, mas eles são todos mais ou menos da mesma maneira – ou o cidadão recebe pelos correios ou vai um funcionário até a residência. A previsão é que até 2025, pelo menos 1 governo no mundo já tenha substituído seu processo de recenciamento por análise de dados em fontes geradoras ou armazenadoras de big data.
10) Robôs e o ambiente de trabalho: não é segredo de que algumas indústrias funcionam a base de robôs, mas o quanto deles estarão presentes no ambiente de trabalho, digamos, mais administrativo? Há uma previsão de que nos próximos 10 anos, cerca de 30% das auditorias corporativas sejam feitas por robôs. Alguns acreditam que seja também possível lançar neste prazo o primeiro farmacêutico robô.
11) Moeda digital: hoje cerca de 0, 025% do PIB mundial é negociado via blockchain (quem não está habituado com o termo, é uma espécie de “livro-razão” – ou razonete – em que se registra as transações em bitcoin ou similares). Alguns acreditam que esta porcentagem possa chegar a 10% do PIB mundial até 2025 (embora não seja muito crível). Mas muito provavelmente algum governo já estará coletando impostos via blockchain.
12) Economia compartilhada: em 2013 quando a consultora April Rinne causou “furor” em Davos ao falar sobre economia compartilhada (ou economia circular), pouca gente tinha familiaridade com o termo. Hoje, Uber e Airbnb fazem parte do clube do bilhão. Esta tendência não deve perder força na próxima década.
13) Impressora 3D: é considerada um dos “pilares do futuro da manufatura”. O epíteto já diz tudo. Acredita-se que em 10 anos, 5% dos manufaturados serão “impressos” em 3D.
Sei que o texto é longo, se você chegou até aqui, agradeço pela companhia.
Criar, aprender e se fazer as perguntas certas
julho 21, 2016 § Deixe um comentário

Criar é tão antigo quanto aprender. De ferramentas de pedra a desenhos nas cavernas, a criação humana se confunde com a própria atividade da nossa espécie. Podemos afirmar, com pouca dúvida, que “está em nosso sangue”. Por que então nosso sistema educacional – com raras exceções – se preocupa tanto com o conceito, muitas vezes em detrimento da própria aplicação prática? Talvez a resposta esteja em nossas próprias diretrizes educacionais.
A Lei 9.394/1996, também conhecida como “Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional”, estipula em seu artigo 32 os objetivos do ensino fundamental, que se inicia aos 6 anos de idade e tem duração de 9 anos. Como é um pouco longo, sugiro que quem tiver interesse de lê-lo na íntegra, baixe gratuitamente o livro “Legislação Brasileira sobre Educação”, editado pela Câmara dos Deputados. De qualquer forma, um pequeno resumo se faz necessário: temos como objetivos desenvolver a capacidade de aprendizado (leitura, escrita e cálculo como elementos para tal) e de aprendizagem (conhecimento, habilidades, atitudes e valores), a compreensão do ambiente da sociedade e o fortalecimento dos vínculos sociais. Com exceção de uma referência tímida ao desenvolvimento de habilidades (que está ligada à implementação), a maior parte dos objetivos do sistema educacional brasileiro está ligado diretamente à conceptualização (tanto no aprendizado quanto na socialização). Para facilitar o entendimento, dou como exemplo o ensino de literatura. Muito provavelmente, se estivermos aprendendo literatura, seremos orientados a ler determinados livros e nosso entendimento da narrativa literária será avaliado por meio da nossa capacidade de conceptualização dela (redação, prova, etc.). Dificilmente seremos instigados a “implementar” a narrativa, por meio da encenação de uma peça, por exemplo.
Pensadores educacionais como Johann Pestalozzi, Maria Montessori, Seymour Papert – além dos nossos próprios Anísio Teixeira e Darcy Ribeiro – ajudaram a pavimentar o caminho alternativo do que vem sendo chamado atualmente de “maker movement” (movimento criador ou fabricante), salientando a importância da aprendizagem significativamente centrada na implementação prática do conhecimento. Ao invés de verem a aprendizagem como a transmissão de conhecimentos de professor para aluno, esses pensadores abraçaram a ideia de que os seres-humanos aprendem melhor quando encorajados a descobrir, reproduzir e experimentar.
No coração do “movimento”, está a crença de que todos os alunos são criadores. Em vez de apenas receberem materiais que estimulem a memorização para testes, os aprendizes são incentivados a usar o que sabem para projetar e construir, seja utilizando objetos do cotidiano para explorar a tecnologia ou usando uma impressora 3D para construir uma prótese mecânica para uma criança. Colocar a “mão na massa” tem um papel fundamental nesse processo, tanto que o local de aprendizado se parece mais com uma oficina do que com uma sala de aula. Apostilas ou livros didáticos são mais propensos a serem utilizados como referência – uma ferramenta para ajudar os alunos a experimentarem e construírem – ao contrário das aulas tradicionais, onde memorizar o livro muitas vezes é o próprio objetivo.
Um dos métodos mais utilizados nesta metodologia é o project-based learning (aprendizado baseado em projetos), que abordei em outros textos (quem se interessar, um link compilatório). O citei apenas como referência, o que gostaria realmente de abordar a seguir é a mentalidade envolvida no processo. Mais do que ferramentas ou tecnologia, a metodologia incentiva o aprendiz a formular as próprias perguntas e perseguir as respostas de forma orgânica. Em contraste com a abordagem da “única resposta correta”, a mentalidade envolve a busca de maneiras de se aproximar dela através da experimentação e a “jogar” com as possíveis resoluções dos problemas. Os erros são entendidos como parte da aprendizagem, uma vez que incentivam os aprendizes a ultrapassarem os limites das suas capacidades atuais. Como todo bom cientista entende, cada erro cometido é uma oportunidade de incorporar o que foi aprendido com ele e a testar uma nova maneira de resolver os desafios – muitos deles, nem previstos anteriormente. Em uma cultura educacional que coloca um enfoque excessivo em provas conceituais, há um alto risco de se formar adultos focados em encontrar as “respostas certas”, quando deveriam pensar prioritariamente nas “perguntas certas”.
O questionamento é uma forma poderosa de aprendizagem. Barron e Darling-Hammond, em pesquisa publicada em 2008, mostram que os alunos aprendem de maneira mais profunda quando têm a oportunidade de aplicar conhecimentos adquiridos em sala de aula nos problemas do mundo real. Fazer perguntas fornece contexto, que por sua vez, ajuda a reforçar a aprendizagem. Isto acontece, porque desta forma quem aprende é estimulado a transferir a sua aprendizagem para novos tipos de situações, incluindo aquelas que ocorrem fora da sala de aula.
Como a maioria de nós, fui criado em um modelo educacional que estimula a conceptualização excessiva e tive muita dificuldade em colocar “na vida real” o que aprendi no colégio e na faculdade. Felizmente, encontrei em minha vida profissional pessoas que me incentivaram a pensar em formas de aplicar o que sabia e tiveram a paciência de não me demitir quando algo não saia como deveria. Confesso que tive sorte e que esta não é a realidade da maioria, portanto o quanto antes se comece a incentivar a aplicação do conhecimento, melhor para a sociedade.
Para melhor fluidez do texto, evitei colocar as referências acadêmicas do “maker movement”. Corrijo isto, compartilhando a bibliografia logo abaixo para quem tiver interesse em explorar mais a metodologia.
Bibliografia
- Barron, B. & Darling-Hammond, L. (2008).Teaching for Meaningful Learning: A Review of Research on Inquiry-Based and Cooperative Learning (PDF) Book Excerpt. George Lucas Educational Foundation.
- Dougherty, D. (2013). “The Maker Mindset.” In M. Honey & D.E. Kanter (Eds.) (2013),Design, make, play: Growing the next generation of STEM innovators (pp.7-11). New York: Routledge.
- Eddy, S.L. & Hogan, K.A. (2014). “Getting under the hood: how and for whom does increasing course structure work?“CBE-Life Sciences Education, 13(3), pp.453-468.
- Halverson, E.R. & Sheridan, K. (2014). “The maker movement in education.”Harvard Educational Review, 84(4), pp.495-504.
- Kontra, C., Lyons, D.J., Fischer, S.M., & Beilock, S.L. (2015). “Physical experience enhances science learning.”Psychological science, 26(6), pp.737-749.
- Martinez, S. & Stager, G. (2014).The maker movement: A learning revolution. Arlington, VA: International Society for Technology in Education (ISTE).
- National Science Foundation (2015).Women, Minorities, and Persons with Disabilities in Science and Engineering: 2015. Arlington, VA: National Center for Science and Engineering Statistics.
- Riskowski, J.L., Todd, C.D., Wee, B., Dark, M., & Harbor, J. (2009). “Exploring the effectiveness of an interdisciplinary water resources engineering module in an eighth grade science course” (PDF).International Journal of Engineering Education, 25(1), p.181.
- Wittemyer, R., McAllister, B., Faulkner, S., McClard, A., & Gill K. (2014).MakeHers: Engaging Girls and Women in Technology Through Making, Creating, and Inventing (PDF). Intel.
O impacto da cultura na liderança
julho 4, 2016 § Deixe um comentário
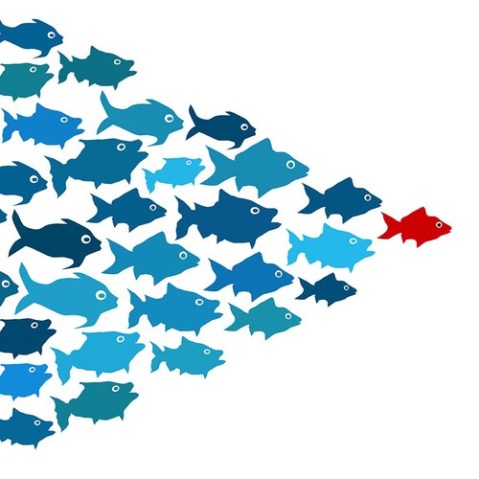
Neste tipo de assunto, a pergunta que sempre vem à tona é mais ou menos esta: o que faz um bom (ou grande) líder? Apesar de haver certo consenso em relação às características principais, como bom julgamento, integridade ou gostar de pessoas, há um grande elemento cultural nessa “receita”. A principal razão disto é que liderança é definida implicitamente pelo entendimento que determinada sociedade faz dela. Dependendo do contexto cultural, uma característica pessoal ou uma tendência de comportamento pode ser vista como uma vantagem ou não.
Algumas pesquisas têm demonstrado que o processo de decisão, o estilo de comunicação e até mesmo as tendências do “lado negro” (da força, como em Star Wars) são influenciadas pelas regiões geográficas de onde os líderes vieram. Em especial cito a publicação de Michele J. Gelfand, Miriam Erez e Zeynep Aycan, cujo título “Cross-Cultural Organizational Behavior” (algo como “comportamento organizacional intercultural”), já dá uma dica do que se trata e os trabalhos do psicólogo holandês Geert Hofstede a respeito da influência da dimensão cultural.
Para dar uma “força” para quem tem interesse no assunto, apresento a seguir um pequeno resumo dos 6 tipos de liderança mais comuns que ilustram, de maneira geral, as conclusões das pesquisas. Creio que vale a pena reforçar que para um entendimento pleno dos conceitos, é fortemente recomendável o estudo do material citado.
Processo de decisão
O líder sincronizado: ser um “fazedor”, em sintonia com o que está acontecendo no ambiente, é a chave para ser visto como “material de liderança” (gosto do termo inglês leadership material e quis manter algo parecido em português, mas vale comentar que significa algo como ter uma perceptível tendência para liderança e não necessariamente ser um líder) em regiões como o nordeste da Ásia (por exemplo, China, Coreia do Sul e Japão), Indonésia, Tailândia, Emirados Árabes e boa parte da América Latina (México, Brasil, Colômbia, Chile – os mais citados nas pesquisas). Para “subir” na hierarquia organizacional, tais líderes devem buscar o consenso nas decisões e direcionar os outros, orientando de maneira bem explicadinha (é o chamado processo especificado). Os líderes sincronizados tendem a ser prudentes e estão mais focados em ameaças potenciais do que em oportunidades.
O líder oportuno: como “oportunista” não tem um bom sentido em português, preferi trocar o termo para “oportuno”, mas creio que é perceptível que a característica aqui é a do “aproveitamento das oportunidades”. Este pessoal tem mais iniciativa e flexibilidade em relação à forma como alcançar um objetivo (por favor, sem inferir que um estilo é melhor do que o outro, a questão central gira em torno do que é considerado mais adequado em diferentes regiões). Esta característica é mais apreciada em alguns países europeus, como Alemanha, Holanda, Dinamarca, Noruega e Reino Unido (os mais citados nas pesquisas), nos países ocidentais que tiveram uma influência cultural bastante acentuada do Reino Unido (como EUA, Austrália e Nova Zelândia) e nos países asiáticos que basearam as suas instituições no modelo britânico (Índia, Singapura, Malásia e Hong Kong). Mais ou menos individualistas, esses líderes tendem a arriscar mais.
Estilo de comunicação
O líder direto: em algumas regiões, os liderados esperam que o líder confronte os problemas de maneira direta (recomendo como leitura adicional, o artigo da Forbes escrito pelo Ross Alan Prince, “Want Business Success, Master Constructive Confrontation”). No nordeste da Ásia e em países como a Holanda, a comunicação excessiva não é muito atraente – o pessoal lá quer que o líder vá direto ao ponto. Desta forma, os líderes orientados para a tarefa são os que tem a preferência do “eleitorado”. Eles tendem a fazer reuniões de avaliação de desempenho, com relatórios diretos e a abordarem comportamentos indesejáveis assim que eles são observados. Tendem também a serem menos interpessoais e empáticos.
O líder diplomático: em alguns lugares, finesse e bom trato são importantes não apenas para se relacionar bem, mas para seguir bem na “carreira” – também deixo uma leitura adicional, o artigo de 2003 publicado no Journal of Applied Psychology, intitulado da maneira tão característica dos artigos acadêmicos (explicando tudo já no título) “Using Theory to Evaluate Personality and Job-Performance Relations: A Socioanalytic Perspective”. Bom, em lugares como Nova Zelândia, Suécia, Canadá e grande parte da América Latina, os liderados preferem trabalhar com líderes que são capazes de manter conversas de maneira agradável e amigável. O confronto precisa ser tratado com empatia e de maneira construtiva. Estes tipos de gestores ajustam suas mensagens para manterem a discussão afável e o estilo de comunicação direta é visto como desnecessariamente dura.
Tendências negativas
Como nem tudo na vida é belo, vale “falar” um pouco a respeito de quando a liderança “dá errado” (no estilo when love goes wrong).
O líder “bicicleta”: essa expressão “tomei emprestada” do meu antigo chefe e mentor, Edmour Saiani. A achei adequada para “traduzir” a expressão “kiss up, kick down”. O significado é mais ou menos o mesmo, trata do líder que “abaixa a cabeça” para quem está em cima e “pedala” em que está em baixo. Quando as organizações enfatizam demais a hierarquia e o “charme” do cargo, estimulam um estilo de liderança caracterizado pela deferência excessiva e pela extrema atenção aos detalhes em relação ao trabalho do subordinado. Embora raramente leve a bons resultados de maneira consistente, este comportamento é tolerado em certos países da Ásia Ocidental (Turquia, Índia e Emirados Árabes), na Sérvia, na Grécia, no Quênia e na Coréia do Sul. O líder “bicicleta” tende a ser diligente e zeloso com seus chefes, mas intensamente dominador com quem trabalha para ele.
O líder passivo-agressivo: alguns líderes podem se tornar cínicos, desconfiados e, eventualmente, raivosos, quando submetidos ao estresse. Estas reações geralmente ocorrem quando ele é forçado a perseguir um objetivo ou realizar uma tarefa, sem “acreditar” no que está fazendo. Apesar de um nível de ceticismo ser benéfico, este comportamento, quando exagerado, pode também dificultar a execução de um trabalho. Líderes com esse estilo são mais aceitos na Indonésia e na Malásia, onde a aversão ao conflito não é mal vista. Tendem a ser críticos e ressentidos e, ironia das ironias, sua aversão ao conflito costuma gerar uma maior quantidade deles.
Certamente qualquer indivíduo tem a possibilidade de ajustar o seu estilo de acordo com o contexto, mas é inegável que requer um esforço consciente e concentrado para ir “contra” a sua tendência e hábitos naturais. Também é importante levar em conta a “cultura da organização” (mais um texto como referência, agora do psicólogo belga Christian Vandenberghe), que demanda uma análise mais específica para se identificar as qualidades que promovem e inibem o sucesso (isto porque uma organização nunca é igual a outra). Fica também a dica (a última, prometo), que um grupo de estudiosos identificou no já longínquo ano 2000. Quando alguém tem sucesso em um ambiente que não estimula o seu estilo de liderança, é porque conseguiu redefinir a cultura organizacional de um modo que refletisse a sua própria personalidade. Não é à toa que uma empresa (e uma sociedade) é a soma dos valores e crenças dos seus próprios líderes (e liderados).
O efeito Facebook e a diversidade
junho 6, 2016 § Deixe um comentário

Há alguns anos comprei um boné do time de baseball New York Yankees na loja virtual do clube. Nos meses seguintes, toda vez que navegava pela internet, os Yankees estavam ao meu encalço no canto da tela do navegador. Era um bastão assinado pelo Derek Jeter, um anel, uma toalha, camisas mil. Havia sido classificado e recebido um perfil: fã dos Yankees.
O mesmo acontece com os livros que compramos, sites que visitamos, música que ouvimos, filmes que assistimos e ideias que apoiamos. Tudo o que fazemos na rede é reforçado e validado, nunca desafiado. Esta é a realidade ao usarmos a rede social, em particular e a internet, em geral. Os algoritmos usados para analisar nosso comportamento buscam personalizar e customizar nossos gostos e não os contestar.
No final da década de 1980 e início da de 1990, a marca de roupas Benetton usava como slogan a frase “United Colors of Benetton”, em que pregava a diversidade. Hoje, as “cores” propagandeadas pelo nosso comportamento reduziram o interesse de boa parte dos usuários do ciberespaço a um tom apenas. O psicólogo Jonathan Haidt, autor de um excelente estudo a respeito de uma das mais antigas características da sociedade, o tribalismo (o estudo foi publicado no livro “The Righteus Mind”) chama o processo de exacerbação desta característica de “Efeito Facebook” – “Facebook Effect” no original.
Ao se tomar consciência deste processo, vem a inevitável questão: como se livrar desta armadilha online?
O jornalista Marc Dunkelman, em seu interessante livro “The Vanishing Neighbor”, explora a interatividade social e seus efeitos em como, com quem e com que frequência nos comunicamos. Utilizando uma metáfora baseada na classificação dos anéis de Saturno (o planeta possui um complexo sistema de anéis, divididos em 3 níveis – interno, mediano e externo), o autor os relaciona com a proximidade dos relacionamentos de um indivíduo: o “anel interno” seria formado por aqueles como quem temos mais proximidade e os “anéis” “medianos” e “externos” representando conhecidos menos familiares e casuais. Dunkelman documenta uma dramática mudança cultural, onde a maior atenção dispensada por uma pessoa é dada aos membros dos “anéis” “internos” e “externos” em detrimento dos relacionamentos do nível mediano – aqueles com quem temos mais ou menos intimidade, mas que formam a maior variedade dos nossos conhecidos. Esta mudança atinge diretamente o que se convencionou chamar de “networking”, enfraquecendo a rede de contatos de uma pessoa e criando uma linha divisória que intensifica a polarização, uma vez que nos comunicamos mais com quem temos afinidade – os “internos” e com quem conhecemos apenas casualmente – os “externos” (as “conexões” ou “seguidores” das redes sociais). Como consequência, acabamos convivendo em um ambiente mais homogêneo e menos desafiador intelectualmente.
Bom, se a internet está desenhada a entregar mais do mesmo (qualquer que seja o mesmo), para se ter acesso à sua inesgotável diversidade, é necessário variar. Quanto mais abranger os seus interesses, mais possibilidade a pessoa tem de entrar em contato com ideias diferentes, trocar experiências (fortalecendo relacionamentos do nível mediano) e aumentar suas referências (facilitando a conexão do conhecimento).
O desafio que se coloca vai além de um feed não equilibrado de notícias ou do algoritmo de algum site. Trata-se de combater um tribalismo que existe há tanto tempo quanto a humanidade e que agora tem se enraizado no solo fértil da internet – o tornando nem tão fértil assim. Inovação vem da diversidade de ideias e do conhecimento que elas geram. Entrar em contato com elas, é responsabilidade de cada um individualmente. Uma frase que ouvi há vários anos marcou minha relação com a diversidade e com o conhecimento como um todo: “é preciso ter a consciência de que Shakespeare não virá até você, você é que precisa ir até ele”.
O caso Gawker e a democracia
junho 1, 2016 § Deixe um comentário

Gawker é um site de fofocas, cujo slogan maroto é “a fofoca de hoje é a notícia de amanhã”. Seus posts, focados em celebridades e poderosos de todas matizes, provocam tanto indignação quanto tráfego ao site. Em 2012 publicou trechos de um vídeo sexual envolvendo o ex-lutador Hulk Hogan. O ex-lutador, indignado, processou o site por invasão de privacidade, ganhou a causa e o direito de receber cerca de US$ 140 milhões por danos à imagem. O criador do Gawker, Nick Denton, alega que a condenação os levará à falência e insiste no seu direito de publicar fatos que considera relevantes e de interesse jornalístico para a sociedade.
Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook (faz parte do board da rede social). Em 2007, o mesmo Gawker publicou um pequeno post com o título “Peter Thiel é totalmente gay, pessoal”, causando furor e indignação de boa parte da comunidade tech e em especial do próprio Peter Thiel, que se sentiu extremamente ofendido. Em maio de 2016, descobriu-se que Peter Thiel contribuiu com US$ 10 milhões para as custas do processo de Hulk Hogan contra o Gawker.
O que o site fez com Hogan e Thiel foi deprimente, mas é preciso olhar a situação em perspectiva. Apesar de ser uma nova mídia, o Gawker é herdeiro direto da crença surgida no século XVIII de que o direito do público à informação é superior ao direito individual à privacidade. Também é herdeiro da prática democrática de causar desconforto aos poderosos – merecendo eles ou não o desconforto – como forma de atenuar e balancear o poder. Devemos lembrar que esta prática surgiu em decorrência das revoluções que destruíram o absolutismo, que por sua vez mostrou à humanidade que o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Foi esta crença também que criou o conceito moderno de democracia e o sistema de freios e contrapesos, que é um dos sustentáculos do Estado democrático de direito.
Muita gente boa acha que o Gawker tem mais é que acabar mesmo – como mostra este debate no twitter – inclusive o próprio Peter Thiel, que classifica sua ajuda às custas do processo como um caso de filantropia. Apesar de admirar o Thiel e em especial o seu ensaio publicado em 2009, sob o título “The Education of a Libertarian”, não posso relevar que neste mesmo texto ele declarou “eu não acredito mais que liberdade e democracia sejam compatíveis”.
Muita gente boa também “esquece” que o Gawker foi um dos primeiros veículos de comunicação a publicar posts a respeito da conta secreta de e-mail da Hillary Clinton, dos abusos sexuais praticados pelo humorista Bill Cosby e da contribuição de Hollywood ao fortalecimento dos abusos a mulheres, antes mesmo da “grande mídia” se interessar pelos assuntos.
A democracia moderna é um processo que ganhou impulso a coisa de 300 anos, é muito recente na história da humanidade (para uma visão geral da história da democracia, cheque este link). O significado de uma “imprensa livre” vai além de titãs como The New York Times, abarca todo tipo de publicação, inclusive tabloides e sites como o Gawker.
Estes últimos, causam tanto desconforto nos ditos mais esclarecidos porque refletem a sociedade em que vivemos do triunfo da cultura da celebridade e da imagem em detrimento do conteúdo. O filósofo René Girard, que desenvolveu de maneira mais extensa o conceito do “mecanismo do bode expiatório”, mostra o quão facilmente atribuímos a uma única pessoa (ou instituição) a causa de todos os nossos problemas (que na maioria das vezes são frutos das nossas próprias falhas). O Gawker foi transformado no “bode expiatório” da vez, mas seu desaparecimento por este motivo (e não pela sua falta de qualidade) causaria um mal irreparável à percepção atual em relação à democracia: a de que é aceitável calar vozes que nos incomodam.
Deu no New York Times
maio 11, 2016 § Deixe um comentário

Redação do NYT ao anunciarem os ganhadores do Pulitzer. Photo by Hiroko Masuike/The New York Times.
Uma das minhas lembranças mais antigas é dos meus pais e tios discutindo os assuntos correntes do momento ao redor da mesa, nas reuniões de família. Uma das frases mais ouvidas – e que trazia credibilidade ao assunto – era a que está no título deste texto. Em meados dos anos 1990, meus pais proporcionaram um dos maiores presentes a um aficionado por conhecimento como eu, uma conexão à internet.
Desde este dia até mais ou menos o ano de 2012, adquiri o habito de visitar diariamente o site da publicação e ler gratuitamente os artigos que mais me interessavam. Em 2012, o jornal, que passava por uma das maiores crises financeiras de sua história, lançou seu serviço de assinatura online. Iria cobrar por algo que entregava de graça até aquele momento. Lembro de ter, ingenuamente, pensado “quem vai pagar para ler uma reportagem na internet? ”. A resposta veio alguns dias mais tarde quando atingi o limite gratuito de 10 artigos. Assinei o jornal e mantenho meu hábito ainda hoje.
Em 1995, o Times – como é carinhosamente chamado – tinha 1,5 milhão de assinantes da sua edição impressa. Hoje, já são 2,5 milhões somadas as duas formas de assinatura. Somente com os assinantes online, o jornal fatura U$400 milhões anuais. O impacto da rede de assinantes já se faz sentir no próprio modelo de negócio da empresa, os anunciantes – antes tidos como o grande foco do planejamento de venda do negócio – perderam preponderância nas finanças do jornal. Em 2016, cerca de 90% das receitas do New York Times são atribuídas à 12% do total de leitores do jornal (sua base de assinantes).
Sendo um entusiasta do jornalismo independente, fico feliz com a mudança de enfoque da relação financeira de uma grande publicação, dos anunciantes para os seus leitores. Clarifica a missão da empresa e ajuda a priorizar o gasto dos seus recursos no que é realmente importante.
Recentemente, o editor-chefe da Bloomberg reclamou que as empresas jornalísticas se “alimentam de migalhas do Facebook”. Se referia ao fato da rede social ganhar rios de dinheiro em anúncios, utilizando feed de notícias de publicações externas para aumentar o tempo de conexão de seus usuários no site, sem gastar um tostão na criação daquele conteúdo.
Entendo a frustação, mas vejo o fato de outra maneira. Há dois caminhos quando um negócio enfrenta a disrupção trazida pela internet: pode reclamar e tentar, sem sucesso, manter as coisas do modo anterior ou pode abraçar a mudança e a utilizar a seu favor. O Facebook é um fato da vida, não é ignorado por ninguém ao redor do mundo e é hoje, a plataforma mais valiosa para qualquer empresa, de qualquer setor, entrar em contato com o seu cliente potencial.
O New York Times utiliza o Facebook principalmente para “acessar” leitores que admiram o jornal e os estimular a se tornarem assinantes. Ao lançar a sua edição em espanhol, a empresa utilizou funções criadas por cientistas de dados (para quem não está familiarizado com o termo, uma função é um algoritmo estatístico escrito para “ler” dados brutos) em conjunto com o Facebook para “encontrar” dentre os milhões de nativos de língua espanhola que acessam diariamente a rede social, leitores – e possíveis assinantes – para a edição na nova língua.
Ao focar a missão do seu negócio em seus leitores e produzir grande jornalismo, o Times abraçou a internet como aliada ao invés de ameaça, e deixou de lado a “briga” por anunciantes com o Facebook. Este ano, a publicação teve 2 vencedores – e 10 finalistas – do prêmio Pulitzer (mais finalistas do que qualquer outra empresa de notícias no mundo).
Penso ser mais do que hora de se encarar a internet com a responsabilidade necessária e dar a devida atenção à sua real natureza: é um serviço público essencial, como rede de água e esgoto, e deve ser disponibilizada à população da mesma forma como os outros serviços essenciais. Em tempos em que se proliferam propostas como a da Anatel, de limitar o serviço oferecido, o exemplo do New York Times é uma demonstração da importância da web como ambiente de negócios ao redor do mundo. Ficar para trás, mais do que atraso, é uma irresponsabilidade na condução de uma política pública. Em relação à internet, o melhor caminho é, como o slogan do próprio Times aponta: Go Inside.
Eu acho que…
maio 4, 2016 § Deixe um comentário

Em um artigo publicado em 2014, Microaggression and Moral Cultures, os acadêmicos Bradley Campbell e Jason Manning identificam uma mudança na postura de algumas universidades, que ao invés de “celebrarem” a liberdade de expressão passaram a defender uma espécie de “cultura da vitimização”, pressupondo que as pessoas são inerentemente frágeis e, portanto, deve-se evitar falar algo que possa ofendê-las. Essa postura foi fortalecida pelo que ficou conhecido como “politicamente correto”.
O “politicamente correto” também incentivou a popularização da frase “eu acho que”, muito comum aos ouvidos “mais atentos”. Assim como frases similares em outras línguas, como a inglesa “I feel like”, “eu acho que” traz um paradoxo embutido. Ao “mascarar” uma afirmação como uma “humilde opinião”, ela atua como “coringa” bloqueando argumentações contrárias, porque traz implícito que o emissor não tem tanta experiência (pois apenas “acha”) ao mesmo tempo que reforça opiniões semelhantes. Atua como um “escudo” imediato de quem a usa.
Em tempos de polarização, é entendível que as pessoas queiram se resguardar, mas uma das grandes conquistas da era contemporânea (pós revolução francesa), foi a habilidade de argumentar sem resultar (na maioria das vezes) em violência física. É a premissa do “conflito civilizado”, embutido na democracia moderna. Ao mascarar o conflito, “eu acho que” reprime debates e “alimenta” todo tipo de “achismo”, desde como organizar uma educação pública de qualidade até quem apoiar como candidato à presidência. Atua como uma espécie de coerção da esfera pública e privada. A verdade é que “achismo” não gera proposta.
Em seu artigo publicado em 1946, “Politics and the English Language”, o escritor George Orwell escreveu a famosa frase “se o pensamento corrompe a linguagem, a linguagem também corrompe o pensamento”. No texto, Orwell se preocupa com o efeito da linguagem em nossa habilidade de pensar. Não se trata somente em ter todos os pontos claramente definidos, mas sim em ter, “para início de conversa”, um ponto que valha a pena ser proposto. Isto demanda formular ideias equipadas com o melhor “arsenal” possível em termos de ordem, alcance e precisão. Ao usar “eu acho que”, todo este arsenal é “jogado fora”.
Orwell propunha que as pessoas, além de explicarem claramente o que queriam dizer, tivessem algo válido a ser compartilhado. Ele deixou duas dicas imbatíveis neste quesito:
1) tenha algo significativo para dizer – antes de dizer;
2) quanto mais clara for sua linguagem, melhor será o seu pensamento.
Usar “eu acho que”, diminui a substância do que uma pessoa quer falar. Ao imbuir o pensamento de subjetivismo, e tornar o subjetivismo um fim em si mesmo, menos expressivo o próprio pensamento se torna. Se alguém quiser realmente criar uma “estrutura” de pensamento crítico e criativo para si mesmo e desenvolver a habilidade de propor soluções aos problemas que aparecem no seu cotidiano, deve cultivar a arte da conversação. O primeiro passo é abandonar “vícios” verbais que possam influenciar maus hábitos.
Uma sugestão: na próxima vez em que participar de uma reunião de trabalho, discussão em sala de aula ou jantar em família, substitua “eu acho que” por “eu penso que” ou “eu acredito que” e veja a reação dos demais às suas ideias. Não devemos “achar”, devemos argumentar racionalmente, sentir profundamente e assumir a completa responsabilidade da nossa interação com o restante do mundo.
