A “desculpa” da política
abril 27, 2016 § 2 Comentários

People raising their hands
Há tempos tomei a decisão de não discutir política – que cá entre nós, me fez um enorme bem. Um pouco por perceber a política cada vez mais parecida com futebol e religião, dogmática. Cada um no seu lado e o resto adversário. Como não pretendo discutir política, apenas compartilhar impressões, me reservo o espaço para tal.
Percebo nos tempos atuais um comportamento político irresoluto. Frequentemente, disputas políticas não geram conclusões aceitáveis ou concordância relutante. Geram apenas acusações de roubo, rótulos de ilegitimidade e uma determinação em neutralizar o vitorioso, anular resultados ou revertê-los o mais rápido possível. Aconteceu nas eleições de 2014 e aconteceu agora, no processo de impeachment. Não é privilégio de nenhuma corrente política, mas um comportamento geral, compartilhado por todos.
A bem da verdade é que não é nem um “privilégio” brasileiro, acontece o mesmo comportamento em várias partes do mundo. É possível observá-lo, em todo seu “esplendor”, nas primárias americanas, onde os líderes do partido republicano insistem em tentar barrar a indicação de Donald Trump, mesmo sendo ele o favorito da maioria dos eleitores do partido e mesmo sem oferecerem um substituto viável – todos os demais concorrentes tem uma rejeição dos filiados maior do que a dele. O mesmo ocorre no partido democrata, em que os apoiadores do candidato Bernie Sanders insistem em dizer que a adversária, Hillary Clinton, frauda os resultados. Mesmo com ela sendo apoiada pela maioria dos eleitores do partido, com exceção de universitários brancos e artistas de hollywood.
Voltando à terra brasilis, eleições não “encerram” disputas porque há uma crença perniciosa de que elas não são um referendo do estado de espírito do povo e sim um intricado jogo de tabuleiro, com peças marcadas. Talvez pelo nosso passado autocrata, talvez pela falta de confiança crônica entre os brasileiros, mas a verdade é que se alguém considera que foi “passado para trás” ao invés de ter “perdido no voto”, qual o motivo para declarar trégua ou cooperar futuramente?
O processo democrático nunca foi suave e as derrotas raramente aceitas de maneira dócil. Frank Bruni, jornalista americano, conta que o ex-presidente Teddy Roosevelt criou em 1912 o partido progressivo apenas porque os republicanos indicaram o também ex-presidente William Howard Taft como candidato ao invés dele. Portanto, é natural um político não aceitar uma derrota. O que não é comum é a mesma atitude ser tomada pela maioria dos eleitores e mais incomum ainda, é o esforço coletivo em deslegitimar os vencedores – sejam eles quem forem.
Esta atitude diz muito a respeito da nossa sociedade: a grosseria do nosso discurso, o tribalismo cego dos nossos “debates”, a elevação do individualismo muito acima do propósito coletivo e o ethos de que todos são por direito de nascença vencedores na competição da vida (e não por conquista pessoal).
Esta forma de pensar leva seguidamente aos pedidos de “reforma política”, mais como uma “desculpa” para justificar o comportamento do que uma vontade genuína de melhorar o processo. Mudança verdadeira é muito diferente de rejeitar resultados desagradáveis. Se as mágoas nunca forem postas de lado, o processo democrático não tem chance. Se tudo for fraude, então como no amor e na guerra, tudo é válido. E nós, continuaremos a ter anos à frente de inércia e inépcia, seja quem for que esteja no poder. O Brasil é e será o que os brasileiros quiserem fazer dele. O quanto antes tomemos consciência deste fato, melhor para o país.
Sobre dados
abril 14, 2016 § 1 comentário

Passadas as definições estratégicas de um projeto de Data Analytics com viés educacional, é hora de pensar especificamente no seu “coração”, os dados. É preciso ter claro alguns pontos: qual informação se quer conhecer; quais conjuntos de dados expressam essa necessidade, como eles serão conseguidos e finalmente, como serão usados.
Vamos focar no primeiro ponto, o mais básico deles: qual é a informação que o projeto deve entregar? Para responder esta pergunta, é preciso refletir nos benefícios que se espera atingir com ele. Se quisermos melhorar o nível de aprendizagem, é necessário focar em obter informações que demonstrem o nível de retenção e os conhecimentos que geram mais dúvidas. As “mídias” em que este conteúdo é entregue, também podem ajudar bastante na análise posterior e definição da estratégia para melhorar a aprendizagem. Se o benefício que se deseja for outro, como por exemplo, desestimular o abandono, as informações geradas também mudam. Foca-se em tempo gasto em estudo, performance em exames, interação, dentre outros.
O importante é ter em mente que informação é dado contextualizado, se não se souber que informação se deseja, não há como saber que dado procurar. Daí o segundo ponto, definir os conjuntos de dados que expressam essa necessidade. Como já abordei alguns exemplos de dados associados a informações, vale focar em uma outra questão importante neste momento. Fora as informações já relacionadas como importantes, existem outras que possam emprestar contexto ou adicional valor à sua análise? É importante ter em mente esta resposta, porque ela pode acrescentar outros dados contextuais à análise.
O ponto seguinte gira em torno da definição – ou melhor – localização das fontes que contém esses conjuntos de dados. Banco de dados que contenham informações acadêmicas, disciplinares, acesso a sistemas online, rankings de performance, são tantas as fontes possíveis, que neste momento é possível que o projeto de Data Analytics se transforme em um projeto de Big Data Analytics. É aqui que se sentirá a importância de se ter “parado” antes para realizar a definição estratégica do projeto. Ela mantém claros o motivo e o objetivo que se quer alcançar, neste momento em que é fácil perder o “horizonte” do escopo.
Aqui também vale abordar o tópico, comumente chamado na área de análise de dados, de dark data. A definição mais aceita, diz que são os dados gerados durante as atividades regulares que não são usados. Similar à “matéria escura” da física, os dark data constituem a maior parte dos dados de qualquer organização. A Gartner, uma das maiores empresas de pesquisa e consultoria de TI do mundo, descobriu que boa parte das organizações usa apenas 15% dos dados que gera. O resto fica escondido em locais de difícil acesso ou localização, em sistemas legados ou em data stores. Não haveria problema, se não fosse o fato de já se estar pagando para armazenar todos esses dados, por que então não considerá-los?
Como os dados serão usados?
Para abordar o último ponto citado no início do texto, vale levar em consideração 5 elementos, que vão ditar o que precisa ser feito para cada conjunto de dados (ou big data, dependendo da evolução do projeto).
1) Preparar-se para o volume: é preciso ter em mente que quando se “trabalha” com dados, se “trabalha” com volume. É muito importante “classificar” seus dados, isto faz toda a diferença quando o volume começa a aumentar. Para fazer essa classificação, baseie seus dados em dimensões. Por exemplo, valor (gastos de manutenção do sistema, por aluno, por disciplina, etc.); uso (frequência de acesso, de presença, etc.); tamanho (gigabytes, terabytes); complexidade (dados relacionais, gerados por interação com máquinas, automáticos, etc.), tipos (vídeo, texto, imagem, etc.); permissão de acesso (usuário comum, administrador, desenvolvedor, etc.). Sei que cansa só de ler, imagine quando estiver disponível em alguma tela ou documento de análise. Dimensões ajudam a priorizar o que olhar e em que momento.
2) Levar em consideração a variedade: o aspecto mais desafiador da análise de dados é a imensidão de formatos e estruturas que devem ser conciliadas. É preciso integrar inúmeras fontes e manter “espaço” para integrar novas. Por exemplo, se em algum momento do projeto se quiser conhecer o impacto social das ações educacionais (é uma realidade caso se esteja usando algum financiamento de terceiros, como ONGs ou do próprio governo), estes novos dados terão que “conversar” com as fontes de dados já utilizadas (banco de dados relacionais, sistemas legados, mainframes com informações públicas, dentre outros). Considerar a variedade é essencial para ser assertivo.
3) Manusear com velocidade: a combinação de fluxo de dados em tempo real (os chamados real-time data streaming – que nada mais são do que os dados gerados pelos usuários durante o acesso) e os dados históricos (que já estão “guardados” em algum banco de dados) aumenta o “poder preditivo” da análise, portanto é interessante considerar no projeto tecnologias de streaming analytic e infraestrutura lógica para gerenciar estes dados com a velocidade necessária.
4) Garantir a veracidade: a melhor análise de dados feita não servirá para nada se as pessoas que receberem estas informações não confiarem na veracidade dos dados utilizados. Quanto mais dados houverem, mais importante se torna garantir a qualidade deles. A qualidade de um dado está ligada à sua “preparação”. Preparar um dado significa realizar sua curadoria e limpeza. Alguns tipos de dados, como os financeiros por exemplo, precisam ainda de certificação de veracidade ou de compliance, que geralmente são emitidos por institutos independentes ou agências governamentais. O ideal é criar categorias de dados, baseadas no nível de preparação, que pode variar de dados brutos à altamente cuidados. Deixe claro, em todos os momentos, para todos os envolvidos, o nível de preparação a que os seus dados foram submetidos.
5) Definir requisitos de conformidade: os diferentes conjuntos de dados usados “virão” com diferentes estipulações ou requisitos de segurança. Para cada um deles, deve-se pensar no custo (financeiro e de esforço) e nas maneiras para tornar os dados “anônimos”, com base em políticas de segurança ou confidencialidade. Para isto, é necessário entender quais são e onde estão os dados sensíveis, mantê-los seguramente criptografados e controlar o acesso a eles.
Para que um projeto de Data Analytics – de uma maneira geral e não apenas com viés educacional – se torne realidade e seja útil, é preciso torná-lo realístico. Os pontos que abordei neste texto ajudam nesse objetivo, considerá-los ao planejar e implementar pode ser a diferença entre não ir além do piloto – segundo a já citada Gartner, até 2017 60% dos projetos de Data e Big Data podem estar nesta situação – ou implementar com sucesso um sistema inteligente de análise de dados.
Bola de cristal
abril 1, 2016 § 2 Comentários

De um ano para cá tenho desenvolvido um interesse crescente em métodos de análise e modelagem de dados, no que é comumente conhecido como Data Analytics. O que começou como um conhecimento para apoiar o trabalho que desenvolvo em avaliação de ações educacionais, se tornou rapidamente uma fonte de grande prazer pessoal. Conhecer técnicas de Data Analytics é como ter à disposição uma bola de cristal. Utiliza-se os próprios dados disponíveis para identificar seus padrões, promover análises variadas e prever “comportamentos”.
Uma das aplicações possíveis deste campo, embora não muito comumente usada, é na área educacional. Notas, resultados de testes, frequência de aulas, registros de disciplina e ferramentas de desenvolvimento profissional produzem dados que, colocados em certa perspectiva, geram informações valiosíssimas para o próprio sistema. Embora não seja um pré-requisito, o uso da tecnologia na geração e recuperação desses dados tem um papel fundamental na qualidade deles (traz mais acuidade), além de ser um grande incentivador para a integração da própria tecnologia para fins educacionais. Mais do que repositórios para materiais, aulas e atividades, ambientes virtuais são ferramentas de apoio e estímulo ao aprendizado e criam um sistema de comunicação para pais, professores e comunidade. Para a análise de dados, é ouro puro.
O uso de análise preditiva (uma das aplicações de Data Analytics) pode ser determinante, por exemplo, para identificar alunos em risco de não se formarem ou que tenham mais possibilidade de abandonarem os estudos. Uma atuação direcionada antes destes eventos ocorrerem faz toda a diferença na vida dessas pessoas.
Pode-se também “olhar” para além da frequência, dos aspectos disciplinares e das notas e “rastrear” como os estudantes interagem com os recursos de aprendizagem e como se envolvem com o conteúdo e enviar sugestões automáticas de uso para os professores ou para os próprios alunos.
O primeiro ponto nessa história – uso de Data Analytics com viés educacional – é definir as prioridades estratégicas de um sistema de gerenciamento e tecnologia aplicado à educação. Geralmente a intenção é “expandir” as paredes da sala de aula, promover a colaboração e “nutrir” a criatividade e a inovação em alunos e professores. Mas, estas palavras de “ordem” perdem completamente o sentido se não se tiver claramente definido como estes objetivos serão atingidos.
O segundo, é entender que habilidades deverão ser desenvolvidas em todos os usuários do sistema. É a partir delas que se definem as ferramentas a serem usadas (que nem precisam necessariamente serem “tecnológicas”). Com as ferramentas definidas, se consegue também entender como os dados serão “produzidos”.
O terceiro ponto é sistematizar a análise. O uso da tecnologia facilita, mas uma análise que traga informações relevantes atua basicamente “em cima” de requisitos e de critérios para avaliar ensino e aprendizagem, melhorar a comunicação, reforçar a ligação entre a escola e a casa do aluno e garantir a excelência operacional e analítica das práticas correntes do sistema escolar.
O quarto e último ponto é a tecnologia em si. Reflita nos pontos anteriores: a tecnologia é essencial para desenvolver algum deles? A resposta (como já deve ter percebido) é não. Mas, tê-la envolvida é mais ou menos como disputar uma corrida usando uma charrete ou uma Ferrari. Se conseguirá cruzar a “linha de chegada” com as duas, mas o tempo de uma será infinitamente diferente da outra.
E tempo, conta.
Agregar tecnologia à educação é uma questão de “mentalidade de crescimento” (no original, growth mindset). É a crença de que “qualidades” podem mudar e de que podemos desenvolver a nossa inteligência e habilidades. A definição geral de growth mindset pode ser dividida em vários conceitos, tais como a importância de cometer e consertar erros ou refletir sobre o próprio processo de aprendizagem, o que os une é o fato de serem fundamentais para “ensinar” uma pessoa a atuar em um mundo em que criatividade e pensamento inovador constituem ativos de extremo valor.
Ensaio sobre a cultura atual
março 16, 2016 § 2 Comentários

O acadêmico Allan Bloom publicou em 1987 um livro, impactante na época, chamado “The Closing of the American Mind”. Nele, criticava o relativismo moral promovido nas universidades norte-americanas, em que o subjetivismo pessoal havia substituído princípios morais universais. Apesar do palavreado bonito, a questão principal, segundo Bloom, era que não existia mais certo ou errado, dependia. Não era à toa que o estereótipo do yuppie havia se tornado o grande ícone social daquela época.
A tese promovida por Bloom, correta nos anos 80, não se aplica mais aos dias atuais – embora muitos acreditem o contrário (lembro que uma das “bandeiras” do papa anterior, Bento XVI, era exatamente a “luta” contra o relativismo). Não apenas campuses universitários, mas boa parte da sociedade, transborda julgamentos “morais”. Muitos escolhem cuidadosamente suas palavras com receio de “ferir” suscetibilidades e desencadear a “ira” de um exército de (nem tão) anônimos. O palco principal das “cruzadas” morais da atualidade não poderia ser outro, as redes sociais. Facebook e similares viraram “campos de batalha” de assuntos triviais à defesa de ideologias políticas e religiosas. A similaridade do “debate” é o radicalismo.
É inegável que uma nova forma de “sistema moral” entrou em vigor, com algum novo tipo (ou tipos) de critério(s) que define(m) o que é certo e errado. A questão principal que se coloca é que novo sistema moral é este?
O teólogo Andy Crouch, autor de livros de temática religiosa e editor do site “Christianity Today”, publicou um artigo em que se propõe a analisar este “sistema moral”. No texto, expõe as definições da antropóloga Ruth Benedict a respeito das chamadas “cultura da culpa” e “cultura da vergonha” (alguns atualmente chamam esta última de “cultura da humilhação”).
Segundo a Dra. Benedict na “cultura da culpa”, uma pessoa é boa ou má de acordo com a sua própria consciência – esta é inclusive a estratégia das religiões judaico-cristãs para “ensinar” conceitos de certo e errado (quem passou por colégios religiosos pode atestar – no meu caso, Lassalista). Na “cultura da vergonha” – ou “humilhação” – a pessoa é boa ou má de acordo com o que a comunidade diz a respeito dela, é celebrada ou excluída.
A quase onipresença das redes sociais criou uma espécie de nova “cultura da vergonha”, em que “aparência” conta mais do que “profundidade” e até mesmo “consistência”. O desejo de ser aceito e apreciado pela “comunidade” é intenso, levando à “construção” do aspecto moral baseado no continuum da inclusão e exclusão. O exemplo clássico – e talvez inicial desta cultura – é o da Monica Lewinsky, que publicou em 2014 na revista Vanity Fair um relato maduro e emocionante da sua experiência como “excluída” da comunidade. Relembrando, Monica era estagiária na Casa Branca quando se envolveu com o presidente Clinton, iniciando um escândalo político que quase o levou ao impeachment. Em dado momento foi referida pelo próprio presidente como “aquela mulher”.
A nova “cultura da vergonha” criou uma série de comportamentos online. O primeiro deles é a prática intergrupo de louvor e elogio mútuo. Para ser aceito no grupo é preciso celebrar seus componentes e ser celebrado de volta.
O segundo, é o empoderamento do próprio grupo, que constrói sua própria reputação por meio do “policiamento” e reprimenda dos integrantes que falham em seguir seus códigos. Aqueles que não se encaixam, sofrem ataques instantâneos à sua credibilidade.
O terceiro (e último) comportamento, é a ansiedade constante de que o próprio grupo seja denegrido. Isto gera suscetibilidades e exigência instantânea de respeito e reconhecimento. Qualquer piada humorística é vista como pecado capital e gera respostas intensas, muitas vezes violentas. Um comentário desfavorável, por mais leve que seja, é visto como uma ameaça à identidade do grupo. A “seriedade” é levada ao extremo, o que gera polarização. É o radicalismo que tanto se comenta.
A nova “cultura da vergonha” se difere visivelmente da tradicional, encontrada em alguns países asiáticos por exemplo, no seu oposto. Na cultura tradicional, o oposto da vergonha é a honradez. Agir de maneira honrada é a “garantia” de aceitação e admiração pela comunidade. Na nova cultura, o oposto é a celebridade – que não por acaso tem a sua raiz etimológica no termo celebrado (qualquer ligação com o primeiro comportamento, não é mera coincidência). Chamar a atenção, de todos os modos e por qualquer meio, é a “garantia” atual.
Um sistema “moral” baseado em inclusão e exclusão perpetua a insegurança. A falta de padrões permanentes permite seguir o fluxo da multidão, mas gera hipersensibilidade, hipereação e pânicos que estimulam seguir a maioria no estilo “estouro de boiada” (vide o linchamento da suposta sequestradora de crianças).
Em tempos como estes, o comportamento mais importante, na minha opinião, é a descoberta do “norte” ou “verdade” pessoal. É ter a consciência e a convicção do que é válido defender, mesmo sob risco de exclusão e impopularidade. Há alguns anos li o livro do historiador Michael Beschloss chamado “Presidential Courage”, em que narra a história de alguns presidentes norte-americanos que promoveram reformas, mesmo sob ataques pessoais e risco de perder eleições, porque as consideravam de extrema importância para o país no momento. Não é preciso ser presidente para demonstrar este tipo de coragem, mas é preciso saber o que importa de verdade.
Quebrando a mesa… de reunião(?)
março 11, 2016 § Deixe um comentário
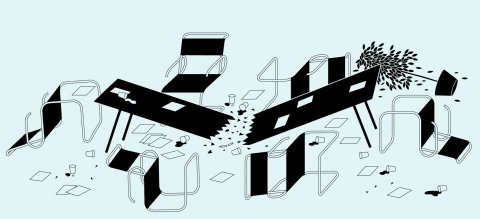
Illustration by James Graham
Octavian Costache, um dos fundadores da start-up de compras Spring, costuma “tomar” a palavra nas reuniões semanais com todos os funcionários, promovidas na cozinha da empresa. Costache trabalhou durante anos na Google e é um dos criadores do Gmail e do Google Maps, portanto um “cara” que todos querem ouvir falar. Só de pigarrear, já chama a atenção na Spring. Foi o que fez em um dos encontros realizados em fevereiro último, queria falar sobre um assunto urgente: reunião.
Citando um artigo famoso de Paul Graham chamado “Maker’s Schedule, Manager’s Schedule”, apresentou o conceito que vinha “martelando” a sua cabeça. Segundo Graham, algumas pessoas “prosperam” em reuniões, e por isso necessitam de um calendário cheio delas, em horários e locais variados. Ele as chamou de “managers” (vou manter o termo original e não a tradução, gerentes, por uma questão de sintaxe). Mas uma empresa, em especial as baseadas em tecnologia (não por acaso, de onde Graham e Costache vieram), não é apenas formada por “managers”. Há aqueles cujo bem-estar pode ser “quebrado” por uma sala de conferências. Precisam de um tempo germinativo, muitas vezes solitário, para colocarem em prática a sua expertise. Graham as chamou de “makers”.
Para ilustrar a ideia, Costache colocou em um monitor um Google Calendar, com um mosaico colorido e tumultuado de afazeres, e o apresentou como “a semana ideal” de um “manager”. Em seguida, abriu um calendário novo, todo em branco, e o apresentou como o “paraíso” dos “makers”. Arrancou aplausos entusiasmados.
A verdade é que apenas as áreas de design de produto e de desenvolvimento, em uma empresa como a Spring, estão autorizadas a um calendário de “maker”. O restante precisa se equilibrar em videoconferências, ligações e encontros. A realidade coloca os verdadeiros “pingos nos is”. Como fazer então?
O próprio Paul Graham dá a dica. Quando perguntado se ainda apoiava as ideias contidas no “Maker’s Schedule, Manager’s Schedule”, saiu-se com um “claro que sim” – afinal foi ele quem escreveu o texto – mas acrescentou: “minha reunião ideal não tem mais do que 4 ou 5 participantes, que conhecem e confiam uns nos outros. Nada de powerpoint ou pessoas tentando impressionar umas às outras”. No texto anterior, escrevi um pouco sobre “QI coletivo” e como ele é estimulado em grupos que se comportam exatamente como na descrição da reunião de Graham.
Anos atrás, treinei durante alguns meses boxe. Não foi aonde me encontrei em termos de artes marciais – hoje pratico kung fu, que me proporciona momentos de incrível alegria – mas tenho uma dívida com a chamada “velha arte”. Existe duas coisas em comum entre o boxe e começar uma empresa que notei com o passar do tempo (vou chegar mais à frente no que isto tem “a ver” com reuniões). A primeira é que são atividades extremamente solitárias. Certamente se tem a ajuda de amigos, mentores e treinadores, mas quando a luta começa, é só você no “ringue”. O segundo, é que a “luta” propriamente dita tem pouco a ver como trabalho em si, é uma porção bem pequena do que se tem que fazer. O verdadeiro trabalho acontece quando ninguém está olhando: o treino, a preparação. Muitas vezes só nos damos conta quando estamos recebendo as pancadas.
Reuniões são como treinos. Em uma empresa, assim como no boxe, ter as pessoas certas auxiliando na preparação pode ser a diferença entre sair da “luta” só com um olho roxo ou direto para o hospital. Entendo a “reclamação” de Costache e Graham não como uma diatribe contra reunião, mas contra a perda de tempo. Se pudesse ser vendido no mercado financeiro, creio que “investir” em tempo daria o maior retorno de todos – dado o quão valioso ele é. É preciso critério para marcar, participar e até encerrar uma reunião. Ela precisa ser significativa, do contrário é inevitável a sensação de tempo perdido. Ser significativa, para mim, não implica necessariamente gerar algum plano ou decisão – mas contar efetivamente como um passo a mais (não necessariamente adiante) no processo de trabalho. Mesmo porque, como disse certa vez Mike Tyson – voltando à analogia do boxe – “todo mundo tem um plano até levar o primeiro soco na cara”.
Criar algo – e não se engane, esta é a razão de reuniões – está relacionado ao “caminho”, não ao “resultado final”. É o caminho que conduz a intenção. O que os “reformadores de reuniões” quase não abordam é que elas funcionam como “abrigos de mentes” e quando bem combinadas entre participantes, que sabem o que querem e respeitam as opiniões alheias, podem atuar como um “celeiro” de boas ideias. O caminho é o processo.
Para fechar, deixo como reflexão uma frase do grande treinador de boxe Cus D’Amato: “não importa o que se diga, não importa a desculpa ou a explicação dada, no final das contas, o que uma pessoa faz é o que ela queria fazer desde o início”.
Qual é o processo das suas reuniões?
O que equipes de sucesso têm de diferente
março 1, 2016 § 4 Comentários
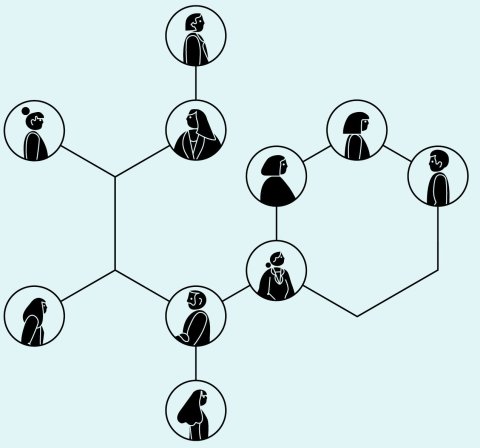
Illustration by James Graham
Em 2008 um grupo de especialistas das instituições Carnegie Mellon, MIT e Union College iniciaram uma pesquisa para medir a “inteligência” de grupos, que chamaram de “QI coletivo”. Para isto recrutaram quase 700 pessoas, divididas em pequenos grupos aos quais distribuíram uma série de pequenas tarefas que requeriam diversas formas de colaboração. Eram atividades bem diferentes entre si, como pensar em novas aplicações para um tijolo ou fazer compras em conjunto em um supermercado com diferentes listas para cada membro.
O que mais chamou a atenção dos pesquisadores foi que os grupos que se saíram bem em alguma tarefa, também conseguiram bons resultados nas demais e os grupos que não foram bem em alguma, repetiram o mesmo resultado em todas elas. Ao focarem nos grupos que haviam se saído bem, perceberam que apesar de agirem de maneiras diferentes, possuíam duas características em comum.
A primeira era que todos os membros falavam na mesma proporção. Em alguns momentos, todos participavam igualitariamente, em outros a liderança mudava de mãos de acordo com a tarefa, mas no “final das contas” a quantidade de tempo que cada um havia “falado” era praticamente a mesma. Isto levou os pesquisadores a concluírem que quando todos os membros de um grupo tinham a chance de participar, o grupo ia bem. Quando uma pessoa ou um grupo restrito dominava, a inteligência coletiva caía. Esse fenômeno foi chamado de “igualdade na distribuição de turnos de conversação” (no original, “equality in distribution of conversional turn-taking”).
A segunda característica que todos os bons grupos possuíam era a “sensibilidade social” – um jeito chique de dizer que eram habilidosos em intuir como os outros membros se sentiam apenas pelo tom de voz, expressão facial e outras formas não-verbais de comunicação. Para medir esta habilidade, os pesquisadores utilizaram um teste chamado “reading the mind in the eyes” – algo como “lendo a mente pelos olhos” – que consiste em mostrar fotos de olhos de pessoas e pedir para descreverem o que aquelas pessoas estavam pensando ou sentindo. Os bons grupos pontuaram acima da média neste teste – em contraste, os grupos que não foram bem nas tarefas pontuaram abaixo da média. Estes grupos (os mal avaliados) aparentaram ter uma baixa sensitividade em relação aos próprios membros.
Antes de continuar, gostaria de propor uma questão. Se você tivesse que contratar uma das duas equipes a seguir, qual delas escolheria?
Equipe A: composta por pessoas extremamente inteligentes e de sucesso comprovado. São profissionais que aguardam aparecer um tópico que dominam e então o explicam detalhadamente e indicam o que a equipe deve fazer em relação a isto. Quando algum dos integrantes faz um comentário não pertinente ao tópico, é lembrado da agenda da reunião e do assunto que estão debatendo. É uma equipe eficiente, que não perde tempo com conversinhas e longas discussões. As reuniões acabam invariavelmente na hora e cada um volta imediatamente aos seus afazeres.
Equipe B: composta por algumas pessoas de sucesso, algumas medianas e outras com poucas realizações profissionais. Pulam e voltam aos assuntos sem muito direcionamento. Vários falam ao mesmo tempo e algumas vezes completam as frases uns dos outros. Quando alguém muda de tópico, invariavelmente os outros seguem a sugestão e não é raro abandonarem a agenda. As reuniões não têm um final, as pessoas simplesmente param de tratar dos assuntos em questão para falar da vida pessoal ou fofocar.
A equipe A é certamente o “sonho” de qualquer gestor, mas sugiro fortemente que prestem atenção no que diz a professora de Harvard, Amy Edmondson, no artigo “Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams”, publicado no já longínquo ano de 1999. Trocando em miúdos, “Segurança Psicológica” pode ser descrita como o “clima” de confiança e respeito mútuo da equipe que permite com que as pessoas estejam confortáveis para serem elas mesmas. Isto gera um senso de autoconfiança em cada membro de que não será rejeitado, humilhado ou punido por dizer o que pensa. Amy Edmondson também é autora de um livro que costumo recomendar para todos que estejam interessados em atuar na “economia do conhecimento”, chamado “Teaming”.
Apesar de ser uma equipe séria, em que todos estão interessados em “dar o seu melhor” e cujos membros têm um alto grau de eficiência individual, a equipe A desencoraja “igualdade” no falar; permite pouca interação pessoal, que faz com que seus membros não tenham condição de “pescar” sentimentos ou “coisas” não ditas; e há uma grande chance deles continuarem agindo individualmente mesmo estando em grupo. Ao longo do tempo, é pouco provável que essa equipe desenvolva um alto grau de “QI coletivo” – traduzindo, dificilmente vai gerar propriedade intelectual ou inovação.
A equipe B, apesar de parecer errática, com seus membros falando ao mesmo tempo, saindo pela tangente em discussões e socializando quando deveriam estar trabalhando, não é tão ineficiente quanto aparenta. Ao permitir que seus membros falem tanto quanto achem necessário e que criem sensibilidade para perceber os humores e sentimentos uns dos outros, está sedimentando as bases da “Segurança Psicológica” e da criação de elos interpessoais. Em médio e longo prazo, apesar de não possuir muitas “estrelas”, a equipe B se tornará mais inteligente coletivamente do que a equipe A – e na “economia do conhecimento”, ao fim e ao cabo é isto que importa. Porque é isto que gera dinheiro.
Sei que para muitos pode parecer uma insanidade permitir que funcione em um ambiente corporativo um processo como o da equipe B. Sei também que para 99% dos gestores com poder de decisão, a equipe que seria contratada para qualquer projeto seria a A. O exemplo muitas vezes é o melhor incentivo para a mudança de comportamento, então aí vai um. Uma “pequena” empresa da Califórnia tem gastado os “tubos” financiando pesquisas como a da professora Edmondson e contratando equipes B. Talvez você conheça, chama-se Google.
Como ser um aprendiz online?
fevereiro 23, 2016 § Deixe um comentário

Quando se “fala” em aprendizado online, a primeira “coisa” que vem à mente são os tipos de cursos comumente chamados de “cursos online”. Embora se tenha a impressão de que são, digamos, uma versão pré-formatada de e-learning, curso online pode ser desde um tutorial até palestras gravadas ao vivo e disponibilizadas posteriormente. Há “1 milhão” de possibilidades do que se pode fazer.
A postura de quem se utiliza de aprendizado online conta tanto quanto o tipo de “curso” escolhido. Os dois pontos principais aqui são o comprometimento com a oportunidade de aprendizado e a participação ativa no processo. “Correr atrás” é importante para se fazer qualquer coisa, em aprendizado online assume um caráter essencial. Como é o aprendiz quem “conduz” o processo, proatividade é a diferença entre aprender ou não.
Como já escrevi a respeito de autoaprendizado em outros textos, possivelmente soarei repetitivo. Algumas atitudes são fundamentais e o fato de aparecerem recorrentemente, em minha opinião, só reforça a sua importância. O cerne da questão aqui é aumentar o horizonte educacional, portanto:
Descubra suas preferências de aprendizado: todos temos necessidades e preferências pessoais. Conhecer as próprias, é fundamental para escolher o que funciona melhor para si e a abordagem mais apropriada. Alguns retém melhor o conhecimento de forma visual, outros funcionam melhor ouvindo. Com o aumento cada vez maior da velocidade de navegação, a internet permite diferentes possibilidades. Uma vez identificado o seu gosto, fica mais fácil escolher atividades e exercícios que oferecem o melhor retorno.
Se dê tempo para refletir: para reter e absorver o que se está aprendendo, é preciso ter a chance. Como o processo acontece no seu ritmo, a pior decisão possível é correr para passar para o próximo módulo. Refletir em um tópico visto e desenvolver a sua própria opinião a respeito dele, facilita a memória de longo-prazo. Isto acontece porque o conhecimento novo é associado a conhecimentos pré-existentes na “forma” de correlação de ideias. Entre cada aula ou atividade online, se permita um tempo para pensar sobre os pontos principais – há um termo em inglês para representar esses pontos que acho incrível, takeaways – e formar suas próprias conclusões sobre como aplica-los no mundo real.
Estabeleça metas pessoais: o centro de um aprendizado é o seu objetivo. Para que aprender um “truque” novo, se o antigo ainda funciona? A motivação pessoal exerce mais influência durante um aprendizado do que em qualquer outro momento. Não é fácil se manter em curso, por isso ter claro aonde quer chegar é fundamental. Mais do que uma visão em longo prazo, “aonde quer chegar” pode ser dividido em pequenas metas, que permitam acompanhar a sua evolução ao longo do caminho por meio de pequenos desafios ou autoavaliações.
Transforme o aprendizado em uma experiência social: aprendizado consistente não é um desafio solitário. Encontrar pessoas com interesses e ideias semelhantes em redes sociais ou em fóruns online, permite não apenas colaborar com “pares”, mas também se beneficiar com suas habilidades e insights – além de se cercar de outros aprendizes online com tanto (ou mais) vontade em aprender.
Desafie suas ideias e opiniões pré-existentes: um cara que não canso de citar é o Eduardo Giannetti, um economista de formação que se tornou (na minha opinião) um dos pensadores brasileiros mais originais. O Giannetti tem um livro chamado “O mercado das crenças” em que instiga o leitor com a defesa da “tese” de que só acreditamos no que queremos. Quem quiser se aprofundar, recomendo a leitura, mas o que quero sinalizar é a importância de não se “apegar” às próprias ideias e convicções. Esta atitude pode ser até boa para “transmitir credibilidade” (embora discorde), mas é péssima para o aprendizado. Seres-humanos geralmente tem aversão em “escutar” que algo que acreditam é incorreto ou “mal informado”. Certamente ninguém é “dono da verdade”, mas “duvidar” das suas ideias e opiniões pode “abrir” um mundo de novas oportunidades de aprendizado.
Se permitirmos a possibilidade de que algo que acreditamos, muitas vezes durante anos, ser questionável, podemos descobrir coisas novas sobre nós mesmos e o mundo. Isto abre a “ cabeça” e o “coração” para um aprendizado que nunca acaba.
Momento “Aha!”
fevereiro 16, 2016 § Deixe um comentário

Para início de conversa, vale esclarecer que o título não tem conexão com a famosa banda dos anos 80. Escolhi porque me soa melhor do que “eureca”, por exemplo. O sentido é o mesmo, está relacionado àquela “hora” em que algo parece “clicar” na cabeça e o que era complicado, como em um passe de mágica, se descomplica. Aposto que em algum momento já aconteceu com todo mundo.
Quando estamos aprendendo algo, o momento “aha!” de tão esperado parece nunca chegar. Muitos se cansam e desistem no meio do caminho. Outros perseveram, mas encontram um processo tão repleto de frustações que aprender se torna sinônimo de sofrimento. Sei que muitas vezes conselhos como “siga em seu próprio ritmo”, apesar de corretos, tem efeito muito reduzido quando se está desiludido com a própria velocidade de aquisição de conhecimento.
É meio senso comum que perguntas são uma das melhores opções para se testar o entendimento. Mas elas também são uma das causas da desilusão com o próprio aprendizado quando propõe uma reflexão incompleta – e acredite, na maioria das vezes é esta a proposta. Isto porque a própria pergunta é incompleta. Ou é muito objetiva, ou é muito subjetiva, ou é simplesmente mal formulada. Para podermos refletir adequadamente a respeito de algum conteúdo – e estimular o tal momento “aha!” – devemos aprofundar 4 tipos (ou níveis) de questionamento (ou pergunta, se preferir):
O que este conteúdo diz?
Como este conteúdo funciona?
O que este conteúdo significa?
O que este conteúdo me inspira a fazer?
Vou abordar um pouco cada uma delas para poder contextualizar melhor (por exemplo, a pergunta 3, apesar de parecer, não levanta as mesmas reflexões que a pergunta 1).
O que este conteúdo diz?
Esta categoria de questionamento requer que se pense, literalmente, a respeito do conteúdo. É preciso focar tanto na ideia ou entendimento geral quanto nos detalhes-chave. Em literatura, por exemplo, é a famosa “interpretação de texto”. Entender o conteúdo em sentido literal é pré-requisito para que se possa, eventualmente, entendê-lo em níveis mais profundos.
É impossível alguém fazer qualquer tipo de inferência a respeito de algo se não entender o que aquilo quer dizer. Esta categoria é tão importante que gerou um dos pilares da Inteligência Artificial, a representação do conhecimento.
Como este conteúdo funciona?
Quando temos o entendimento literal do conteúdo, é hora de partirmos para o segundo nível de questionamento, o nível estrutural. Para facilitar o entendimento, vou usar como exemplo um conteúdo que tenha sido disponibilizado em texto (como este). Os seus questionamentos devem focar em vocabulário, escolha das palavras, estrutura do texto, habilidade do escritor (narrativa, recursos literários – como metáfora, por exemplo) e propósito.
A análise estrutural requer que se pense nas particularidades do conteúdo. Quanto mais entendemos as suas estruturas internas, mais entendemos as informações contidas nele. Quem conhece a respeito da hierarquia DIKW (comumente chamada de hierarquia do conhecimento) sabe que informação é dado contextualizado. Este nível procura exatamente esclarecer esta contextualização.
O que este conteúdo significa?
Este nível de questionamento lida com a análise inferencial e aborda as conclusões lógicas que se faz a partir do conteúdo. É o momento de se comparar conteúdos e ideias – relacionadas ou não – ao que se está aprendendo. Ao fazermos isso, estamos estimulando a formação da nossa própria opinião e argumentação em relação ao conteúdo utilizado para o aprendizado.
Mas atenção, embora tenha optado por não numerar os níveis de questionamento – para não dar a impressão de que são processuais – há uma certa relação com o grau de entendimento que temos do conteúdo. A análise inferencial é baseada na compreensão do conteúdo nos níveis literais e estruturais – não por acaso os níveis comentados anteriormente.
É realmente difícil responder a esse tipo de pergunta se não tivermos ideia do que o conteúdo diz, literalmente, ou como ele foi construído.
O que este conteúdo me inspira a fazer?
Quando se compreende profundamente algo, é natural que se queira agir, colocar para funcionar, colocar a mão na massa. Cresce a vontade em utilizar a informação ou a perspectiva desenvolvida. Este é o momento que temos a certeza de que aprendemos algo (e que chamei de “aha!”).
Mas é importante saber que nem todo mundo se inspira da mesma forma. Alguns se sentem impelidos a escrever algo a respeito, outros em aprofundar a pesquisa, outros em pensar em maneiras de tangibilizar, como por exemplo um produto ou negócio. Alguns querem participar de debates a respeito para testarem a sua convicção ou força do argumento. Não há modo certo e é isto que faz com que o aprendizado seja estimulante. É isto também que faz com que o aprendizado seja uma experiência pessoal. Ele nos “atinge” de maneiras diferentes.
E é também por isso que alguns (como este que escreve) defendem que o aprendizado seja estimulado por formas diferentes das tradicionais (também conhecidas como formais). A força do aprendizado formal só é potencializada quando incluímos o aprendizado informal e o autoaprendizado na equação. É bom aprender com o professor. Mas também é bom aprender com o Bill Gates, com o Steve Jobs, com o John Lennon e com o Zé das Couves, que vende verdura ali na esquina.
Storytelling, aprendizado e o nosso cérebro
fevereiro 10, 2016 § Deixe um comentário

Contam que certa vez, para demonstrar os seus dotes de escritor, Ernest Hemingway aceitou o desafio de escrever uma história com apenas 6 palavras. Saiu-se com a seguinte frase: “For sale: baby shoes, never worn” – em uma rápida tradução, “à venda: sapatos de bebê, nunca usados”. A frase ficou conhecida como o conto mais curto do mundo e ganhou notoriedade muito pela fama do autor. Atualmente tem sido estudada não em classes de literatura, mas em pesquisas cognitivas. Pesquisadores a usam para determinar o quão poderoso é o efeito de uma boa história sobre o cérebro.
O neurocientista Paul J. Zak, diretor do centro para estudos neuroeconômicos da Universidade de Claremont, em um artigo publicado na revista “Cerebrum”, analisa o conto, focando sua “força” em 3 aspectos, comuns em histórias inspiradoras: a) utiliza o conceito de limiar de atenção do cérebro (attention span) a seu favor; b) utiliza o poder do impacto emocional; c) utiliza a combinação dos 2 (limiar de atenção e impacto emocional) como atalho para a mensagem.
Histórias captam melhor a nossa atenção do que outras formas de informação porque deixam um traço físico e emocional no cérebro. Em parte, por razões evolutivas. Como somos criaturas sociais, interagindo regularmente com desconhecidos, histórias cumprem o papel de transmitir efetivamente informações e valores culturais de um indivíduo ou comunidade a outro. Histórias pessoais ou emocionais tinham a função de facilitar a lembrança do que era passado e por esta razão, eram mais utilizadas do que uma simples declaração de fatos.
Zak e sua equipe utilizaram em sua pesquisa uma animação que conta a história de Ben, um menino de 2 anos que tem um tumor cerebral. O vídeo traz o “pai” de Ben contando que o filho tem apenas alguns meses de vida, enquanto o próprio garoto brinca ao fundo (para assisti-lo, clique AQUI). Os pesquisadores perceberam que após assistir ao vídeo, cerca de metade das pessoas doavam dinheiro para instituições que tratavam de crianças com câncer. Construíram então, um modelo matemático para analisar uma série de histórias emocionais e ajudar a “prever” a reação das pessoas a elas. “Descobriram” 2 aspectos fundamentais nas histórias que consideraram mais efetivas. O primeiro, ela deve não apenas chamar a atenção, mas mantê-la durante um período de tempo. O segundo, deve transpor quem a ouve para o lugar ou o “mundo” dos personagens.
Como se aprende por histórias?
Como não são todas as histórias que conseguem manter a atenção de alguém durante certo período e transpor para o “mundo” dos personagens, é preciso entender como isto acontece. Na visão de alguns teoristas da narrativa existe uma “estrutura universal de histórias”, chamada de “arco dramático”. Ele começa com algo novo e surpreendente, proporciona um aumento de tensão com dificuldades que os personagens devem superar, geralmente por conta de uma falha ou crise em seu passado, leva ao clímax, onde os personagens devem “olhar” para dentro de si para poderem superar os problemas e então, uma vez que se reinventarem ao encontrarem “sua verdade”, a história se resolve por conta própria.
Esta estrutura ajuda a transmitir a informação de forma que não nos esqueçamos dela facilmente. Instintivamente, procuramos pela “estrutura universal” quando sentimos a necessidade ou a urgência de “decodificar” algum dado que acreditamos relevante. O “arco dramático” é a “razão” pela qual boa parte das pessoas olha para acidentes de carro ao passar por eles. É preciso saber se há sobreviventes porque talvez eles tenham feito algo que os fez sobreviver. Ou então, é preciso saber se o motorista fez algo que causou o acidente. E nós, por uma questão evolutiva, temos a necessidade de conhecer informações importantes para a nossa sobrevivência.
Explorando o potencial educacional de histórias (e do “arco dramático”), algumas organizações estão integrando narrativas aos seus esforços (educacionais ou não) com resultados animadores:
Criada em 2012, a iniciativa Narrative 4 ou N4, estimula o aprendizado via histórias com um processo bem simples, que está sendo replicado em diversas escolas e centros comunitários mundo afora. 2 participantes “criam” cada um uma história e a contam para o outro. Quem ouviu a história, tem que recontá-la para mais duas pessoas e assim por diante. O objetivo é quebrar barreiras e preconceitos por meio da “troca” de conhecimento.
Storycorps, o já lendário projeto de história oral de Dave Isay, começou em 2003 com uma cabine de gravação no Grand Central Terminal de trens em Nova York, onde pessoas comuns gravavam a “história” da sua vida para compartilhar com os demais. Treze anos depois (e mais de 50 mil gravações), estas histórias individuais constituem um dos maiores legados sociológicos contemporâneos.
Humans of New York, é um blog lançado pelo fotógrafo Brandon Stanton, para registrar a imagem e as histórias de nova-iorquinos comuns. Com mais de 20 milhões de seguidores hoje, o “projeto” é considerado um “senso fotográfico” da cidade nos dias atuais e usado como fonte de pesquisa em diversos estudos acadêmicos.
A narrativa (ou mais conhecida em alguns meios como storytelling) não é apenas um processo artístico para criação de entretenimento. É um fio condutor memorável que também pode nos ajudar a reter informações importantes e aumentar o aprendizado, uma vez que “estimula” o cérebro a “processar” a informação no ritmo em que ela é passada.
Obama, programação e robótica
fevereiro 2, 2016 § Deixe um comentário

Em janeiro último, o presidente Obama fez o seu discurso final ao congresso americano. É uma prática centenária chamada “State of the Union”, em que o mandatário do poder executivo presta contas aos poderes legislativo e judiciário e compartilha o planejamento para o ano corrente. Em um dos tópicos, Obama verbalizou a importância em “ajudar os estudantes a aprenderem a escrever códigos para computadores”. Ao se comunicar diretamente com estudantes em um evento posterior, o presidente americano os instigou a “dominar as ferramentas e tecnologias que irão mudar tudo o que conhecemos”.
Obama está certo. Não apenas estudantes, mas todos nós, deveríamos mudar o foco de recebedores passivos de tecnologia para criadores ativos de programas, aplicativos, invenções tecnológicas, etc. Esta mudança de atitude, mais do que uma “corrida” tecnológica, significa adequar a forma de pensar para uma mentalidade dinâmica, em que se destaca a “nutrição” do pensamento com conhecimentos abrangentes e a imaginação para melhorar criativamente a comunidade a nossa volta. A “criação” de tecnologia é apenas um condutor (não o único) para esta energia. É bem verdade que é um condutor altamente eficaz, o que leva o presidente dos EUA a “fazer campanha” a seu favor.
Apesar do custo ser apontado como um inviabilizador da iniciativa de se promover uma distribuição coletiva deste tipo de conhecimento, algumas alternativas, como o uso de conhecimentos do tipo acesso livre (open access), ajuda a mitigá-los. Opções como Khan Academy e Code.org já oferecem seus conteúdos em diversas línguas, inclusive o português. São gratuitos (para educadores, estudantes e pais), oferecem incentivos motivacionais e atraem os mais novos com gráficos altamente coloridos e interfaces que usam personagens conhecidos de videogames e temas “lúdicos” como zumbis. Sites como estes representam o primeiro passo para introduzir o coding (como a programação de computadores vem sendo chamada) na vida de um leigo.
O passo seguinte para atingir o que Obama sugeriu (“dominar as ferramentas e tecnologias que irão mudar tudo o que conhecemos”) é a robótica. Instituições e ferramentas destinadas a popularizar o conhecimento e o aprendizado de robótica como Sphero, Wonder Workshop e Lego Mindstorms – apesar de estarem por enquanto disponíveis apenas em inglês, não são empecilho para quem tem algum conhecimento na língua (mesmo em nível escolar) e disposição para aprender. Estas opções para o aprendizado em robótica demonstram que não é necessário montar um laboratório caríssimo do nível do M.I.T. para colocar a “mão na massa”. A robótica “promove” quem conhece coding, da interface solitária de uma tela de computador para uma comunidade social ativa.
Agora que vimos “como” o apelo do Obama pode ser colocado em prática, proponho analisar “porque” ele deve ser colocado em prática. Fugindo de viés social ou econômico – que também podem ser usados para justificá-lo – pretendo focar no viés cognitivo. Afinal, como dizem, preparo educacional e inteligência são algo que nenhuma crise econômica tira de uma pessoa.
Ponto 1: aprendizado sensorial
Seres humanos aprendem utilizando todos os seus sentidos. Alguns pesquisadores têm se esforçado para demonstrar que uma abordagem multissensorial ativa um número maior de conexões cognitivas do que a abordagem tradicional, focada no audiovisual. Programação e robótica atuam neste sentido, encorajando quem as aprende a tocar, construir, medir, avaliar e testar o que fazem. Isto envolve emocionalmente e fisicamente quem aprende, estimulando o aumento de conexões neurais que resultam em um aprendizado ativo e reforçam, pela experiência, a memória de longo prazo.
Ponto 2: melhora da socialização
Aprendizado pela socialização não é nada novo. Lá nos anos 1970, Albert Bandura estabeleceu a teoria mais conhecida da aprendizagem por socialização, que estimulava as pessoas a aprendem umas com as outras, através da observação, imitação e criação de modelos. Esta linha de pensamento é ainda relevante hoje, quando observamos o crescimento da comunicação e colaboração como habilidades críticas para o sucesso profissional. Estratégias para aprendizagem que utilizam como ferramentas a programação computacional e a robótica, além de oferecerem oportunidades de socialização, estimulam o desenvolvimento da habilidade de escutar e avaliar perspectivas alternativas (em um mundo que parece se radicalizar pelos extremos – tanto em uma linha conservadora quanto liberal – esta habilidade pode ser essencial para evitar que explodamos uns aos outros no futuro).
Ponto 3: oportunidade para promover inovação ao alcance das mãos
Em um livro que recomendo bastante, Daniel H. Pink, autor de obras lidas por interessados em administração de empresas, teoriza que nestes anos iniciais do século XXI temos testemunhado uma mudança de mentalidade que irá “pavimentar” o caminho para o restante do século (os 84 anos que ainda temos pela frente). Neste “novo mundo”, o MFA (Master in Fine Arts) irá substituir o MBA (Master in Business Administration) em importância. A questão que Pink aborda, é que não basta “gerenciar” para estimular a inovação. É necessário ter disponível as habilidades criativas para tal. Embora criatividade e pensamento inovador não possam ser automatizados em um programa de computador, o raciocínio lógico que a programação computacional se nutre também estimula oportunidades de construir e expressar a imaginação. Associadas à robótica, estas oportunidades se potencializam.
Ponto 4: aumento do rigor intelectual
Os níveis mais altos da Taxonomia de Bloom (criada pelo psicólogo Benjamin Bloom em 1956) são as capacidades de aplicação, análise, síntese e avaliação. Ao atingir este ápice de pensamento, a pessoa adquire a capacidade de visualizar maneiras viáveis (e novas) de aplicar seu conhecimento. Programação computacional e robótica permite transformar fatos e ideias em “blocos” que podem ser usados para “construir” aplicativos, produtos e invenções. Os 84 anos que temos adiante irão demandar um alto nível de pensamento para enfrentarmos os desafios que nos aguardam. Por que não utilizar “caminhos” que ajudem atingirmos este nível com mais facilidade?
O desejo de criar não é nada novo na história da humanidade. A combinação de corações, mentes e corpos sempre contribuiu para a melhoria do mundo – especialmente após o iluminismo do século XVIII. Mas, me pergunto se estamos nos preparando adequadamente para valorizar nossa criatividade e aumentar nossa possibilidade de criação. Obama está deixando o seu cargo, mas tocou em um ponto fundamental não apenas para americanos, mas para o restante do mundo. Vale a pena ouvir.
