Antigas formas de aprender
julho 11, 2016 § 5 Comentários

Antes da calculadora científica, da HP12C e do Excel, se usava o ábaco. É um antigo instrumento, formado por uma moldura com bastões ou arames paralelos, dispostos no sentido vertical, cada um deles correspondendo a uma posição digital – unidade, dezena, milhar e por aí vai. Durante milênios, ensinou seres-humanos em diferentes partes do mundo a calcular. Era um equipamento verdadeiramente universal (em uma época em que se chegar a qualquer canto do mundo levava, literalmente, anos. Surpreendentemente, o ábaco sobreviveu como calculadora até o início do século XXI – a China, o último país a removê-lo do seu currículo escolar, o fez somente em 2001.
Em 2010, a pesquisadora Chen Feiyan e seus colegas do departamento de física da Universidade de Zhejiang, conduziram uma pesquisa com estudantes de 200 colégios para medir se o ábaco fazia falta ou não. Descobriu que aqueles que sabiam utilizá-lo, tiravam notas mais altas.
Apesar do pouco uso do ábaco na sociedade moderna, algumas instituições de ensino chinesas, como o grupo Shenmo, decidiram reintroduzir o ensino do instrumento, oferecendo cursos específicos ligados ao currículo de aritmética. A sua “força” está em ajudar quem o usa, a “visualizar” problemas abstratos. Ao aproximá-los do nosso “mundo de carne e osso” por meio de um instrumento físico, o ábaco facilita a compreensão do seu conceito e, em um segundo momento, a sua abstração em nosso cérebro (para um melhor entendimento de como as diferentes regiões do cérebro influenciam no aprendizado, recomendo uma visita ao Brain Map, página interativa da organização OpenColleges).
Em um ensaio publicado na revista “The American Scholar” em 2008, o especialista em literatura, Ernest Blum, chama a atenção para o fato de que “o número de palavras necessárias para ler livros em uma língua estrangeira, excede em vários múltiplos, a quantidade de vocabulário adquirido pela maioria dos estudantes desta língua estrangeira”. Segundo Blum, essa enorme lacuna de vocabulário explica porque, mesmo após anos de curso, muitos ainda dependam fortemente de dicionários e traduções para compreenderem textos em outro idioma.
Blum defende a volta de um método, bastante utilizado nas idades antiga e média para o aprendizado de latim e grego, chamado de tradução das entrelinhas (também é conhecido como tradução interlinear). Neste método, o foco do estudo é o texto e não a gramático. Palavras, frases e parágrafos são “dissecados” para a compreensão do seu sentido. Outro fã do método, é o professor de história da renascença da Universidade de Leeds, Robert Black, que estudou cerca de 300 “livros didáticos” utilizados em Florença entre os séculos XII e XV, e descobriu que a tradução das entrelinhas fornecia sinônimos, explicava a ordem das palavras e a gramática em termos “modernos” (modernos para a época), destrinchava as figuras de linguagem e suplementava palavras “sem tradução”, as substituindo pelo seu sentido.
Houve uma “tentativa” de reintroduzir o método ao aprendizado de línguas por volta do século XIX, mas foi rejeitado pelos gramáticos da época, que argumentavam que focar no sentido do texto, desconsiderava a gramática e a composição. Para eles, o sentido deveria ser suplementado pelo próprio estudante, com a ajuda de um dicionário.
O exemplo do ábaco e do método da tradução das entrelinhas, mostra que o que é antigo nem sempre é desatualizado. Há muita tentação em simplesmente substituir algo “velho” por uma nova tecnologia (ou modelo), mas a verdade é que o novo, deve ser encarado como uma adição e não substituição. Desta forma, é possível preservar o que comprovadamente dá resultado (e passou pelo “teste do tempo”) e estimular a introdução de novas práticas que, somadas às antigas, efetivamente vão colaborar para o enriquecimento do aprendizado humano.
O impacto da cultura na liderança
julho 4, 2016 § Deixe um comentário
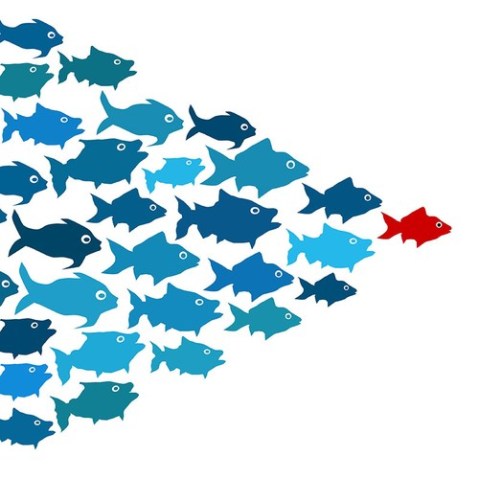
Neste tipo de assunto, a pergunta que sempre vem à tona é mais ou menos esta: o que faz um bom (ou grande) líder? Apesar de haver certo consenso em relação às características principais, como bom julgamento, integridade ou gostar de pessoas, há um grande elemento cultural nessa “receita”. A principal razão disto é que liderança é definida implicitamente pelo entendimento que determinada sociedade faz dela. Dependendo do contexto cultural, uma característica pessoal ou uma tendência de comportamento pode ser vista como uma vantagem ou não.
Algumas pesquisas têm demonstrado que o processo de decisão, o estilo de comunicação e até mesmo as tendências do “lado negro” (da força, como em Star Wars) são influenciadas pelas regiões geográficas de onde os líderes vieram. Em especial cito a publicação de Michele J. Gelfand, Miriam Erez e Zeynep Aycan, cujo título “Cross-Cultural Organizational Behavior” (algo como “comportamento organizacional intercultural”), já dá uma dica do que se trata e os trabalhos do psicólogo holandês Geert Hofstede a respeito da influência da dimensão cultural.
Para dar uma “força” para quem tem interesse no assunto, apresento a seguir um pequeno resumo dos 6 tipos de liderança mais comuns que ilustram, de maneira geral, as conclusões das pesquisas. Creio que vale a pena reforçar que para um entendimento pleno dos conceitos, é fortemente recomendável o estudo do material citado.
Processo de decisão
O líder sincronizado: ser um “fazedor”, em sintonia com o que está acontecendo no ambiente, é a chave para ser visto como “material de liderança” (gosto do termo inglês leadership material e quis manter algo parecido em português, mas vale comentar que significa algo como ter uma perceptível tendência para liderança e não necessariamente ser um líder) em regiões como o nordeste da Ásia (por exemplo, China, Coreia do Sul e Japão), Indonésia, Tailândia, Emirados Árabes e boa parte da América Latina (México, Brasil, Colômbia, Chile – os mais citados nas pesquisas). Para “subir” na hierarquia organizacional, tais líderes devem buscar o consenso nas decisões e direcionar os outros, orientando de maneira bem explicadinha (é o chamado processo especificado). Os líderes sincronizados tendem a ser prudentes e estão mais focados em ameaças potenciais do que em oportunidades.
O líder oportuno: como “oportunista” não tem um bom sentido em português, preferi trocar o termo para “oportuno”, mas creio que é perceptível que a característica aqui é a do “aproveitamento das oportunidades”. Este pessoal tem mais iniciativa e flexibilidade em relação à forma como alcançar um objetivo (por favor, sem inferir que um estilo é melhor do que o outro, a questão central gira em torno do que é considerado mais adequado em diferentes regiões). Esta característica é mais apreciada em alguns países europeus, como Alemanha, Holanda, Dinamarca, Noruega e Reino Unido (os mais citados nas pesquisas), nos países ocidentais que tiveram uma influência cultural bastante acentuada do Reino Unido (como EUA, Austrália e Nova Zelândia) e nos países asiáticos que basearam as suas instituições no modelo britânico (Índia, Singapura, Malásia e Hong Kong). Mais ou menos individualistas, esses líderes tendem a arriscar mais.
Estilo de comunicação
O líder direto: em algumas regiões, os liderados esperam que o líder confronte os problemas de maneira direta (recomendo como leitura adicional, o artigo da Forbes escrito pelo Ross Alan Prince, “Want Business Success, Master Constructive Confrontation”). No nordeste da Ásia e em países como a Holanda, a comunicação excessiva não é muito atraente – o pessoal lá quer que o líder vá direto ao ponto. Desta forma, os líderes orientados para a tarefa são os que tem a preferência do “eleitorado”. Eles tendem a fazer reuniões de avaliação de desempenho, com relatórios diretos e a abordarem comportamentos indesejáveis assim que eles são observados. Tendem também a serem menos interpessoais e empáticos.
O líder diplomático: em alguns lugares, finesse e bom trato são importantes não apenas para se relacionar bem, mas para seguir bem na “carreira” – também deixo uma leitura adicional, o artigo de 2003 publicado no Journal of Applied Psychology, intitulado da maneira tão característica dos artigos acadêmicos (explicando tudo já no título) “Using Theory to Evaluate Personality and Job-Performance Relations: A Socioanalytic Perspective”. Bom, em lugares como Nova Zelândia, Suécia, Canadá e grande parte da América Latina, os liderados preferem trabalhar com líderes que são capazes de manter conversas de maneira agradável e amigável. O confronto precisa ser tratado com empatia e de maneira construtiva. Estes tipos de gestores ajustam suas mensagens para manterem a discussão afável e o estilo de comunicação direta é visto como desnecessariamente dura.
Tendências negativas
Como nem tudo na vida é belo, vale “falar” um pouco a respeito de quando a liderança “dá errado” (no estilo when love goes wrong).
O líder “bicicleta”: essa expressão “tomei emprestada” do meu antigo chefe e mentor, Edmour Saiani. A achei adequada para “traduzir” a expressão “kiss up, kick down”. O significado é mais ou menos o mesmo, trata do líder que “abaixa a cabeça” para quem está em cima e “pedala” em que está em baixo. Quando as organizações enfatizam demais a hierarquia e o “charme” do cargo, estimulam um estilo de liderança caracterizado pela deferência excessiva e pela extrema atenção aos detalhes em relação ao trabalho do subordinado. Embora raramente leve a bons resultados de maneira consistente, este comportamento é tolerado em certos países da Ásia Ocidental (Turquia, Índia e Emirados Árabes), na Sérvia, na Grécia, no Quênia e na Coréia do Sul. O líder “bicicleta” tende a ser diligente e zeloso com seus chefes, mas intensamente dominador com quem trabalha para ele.
O líder passivo-agressivo: alguns líderes podem se tornar cínicos, desconfiados e, eventualmente, raivosos, quando submetidos ao estresse. Estas reações geralmente ocorrem quando ele é forçado a perseguir um objetivo ou realizar uma tarefa, sem “acreditar” no que está fazendo. Apesar de um nível de ceticismo ser benéfico, este comportamento, quando exagerado, pode também dificultar a execução de um trabalho. Líderes com esse estilo são mais aceitos na Indonésia e na Malásia, onde a aversão ao conflito não é mal vista. Tendem a ser críticos e ressentidos e, ironia das ironias, sua aversão ao conflito costuma gerar uma maior quantidade deles.
Certamente qualquer indivíduo tem a possibilidade de ajustar o seu estilo de acordo com o contexto, mas é inegável que requer um esforço consciente e concentrado para ir “contra” a sua tendência e hábitos naturais. Também é importante levar em conta a “cultura da organização” (mais um texto como referência, agora do psicólogo belga Christian Vandenberghe), que demanda uma análise mais específica para se identificar as qualidades que promovem e inibem o sucesso (isto porque uma organização nunca é igual a outra). Fica também a dica (a última, prometo), que um grupo de estudiosos identificou no já longínquo ano 2000. Quando alguém tem sucesso em um ambiente que não estimula o seu estilo de liderança, é porque conseguiu redefinir a cultura organizacional de um modo que refletisse a sua própria personalidade. Não é à toa que uma empresa (e uma sociedade) é a soma dos valores e crenças dos seus próprios líderes (e liderados).
Conselhos para a nova solteira
junho 29, 2016 § Deixe um comentário

Olha só, tem uma nova solteira no pedaço. Bom, pelo menos até saírem os papéis do divórcio. Até lá você, Grã-Bretanha, vai passar pelo processo de indecisão que acomete muitos que já estiveram nesta situação. É possível que hajam tentativas de reconciliação, a Holanda pode começar a enviar tulipas e a Bélgica chocolate. A Grécia pode prometer não deixar mais louça suja na pia e a Alemanha a dividir o controle remoto.
Depois, começa o processo de reaprender a ser solteira. A emoção de não ter ninguém para prestar contas e o desespero nas noites chuvosas. Há, tem também a conta no Tinder para abrir.
Mas, não se desespere Grã-Bretanha, há uns bons partidos “dando mole”. Se você correr, pode se tornar o 51° estado norte-americano. Certamente é mais atraente do que Porto Rico, que apesar de já vir tentando há anos, é repetidamente rejeitado pelo congresso americano. Sei que eles não ligam muito para essas questões geográficas, afinal Hawaii e Alaska conseguiram.
Outro “cara” que eu conheço é o Canadá. Além do inglês, fala francês, de modo que você continuará com alguém que fala mais do que um idioma. Há outras vantagens, você pode deixar a rainha tranquila, afinal eles também são súditos dela. Além do mais, o primeiro ministro deles, o Justin Trudeau é mais bonitão do que o Boris Johnson.
Oriente Médio, não recomendo. Você causou um estrago danado da última vez que passou por lá. O mesmo com a África. Aquele negócio de fronteiras forçadas dá problema até hoje.
Ah, outro país que tem a ver com você, é a Noruega. O clima é parecido, faz frio e chove muito. Tem a Suíça, ela também foi cortejada pela União Europeia e a rejeitou. Nem quis entrar. Pensando bem, melhor não. É muito pequena.
Bom, não quero te deixar tensa, mas outro dia assisti a um filme com a Anna Farris chamado “Qual o seu número?”. A história é sobre uma moça que lê um artigo que diz que as mulheres que tiveram mais de um determinado número de parceiros, têm dificuldade em encontrar um marido. Ela coloca na cabeça de que a solução para o seu problema é tentar se reconectar com ex-namorados.
De repente, o Canadá é a solução mesmo. Joga no Google, eles estão com um programa para estimular a imigração bem bacana. Ih, esqueci que foi por isso que você se separou. Sorry.
Uma vila inteira
junho 16, 2016 § Deixe um comentário

Por algum motivo, decidimos que em nossa sociedade – e de quebra, em nossas instituições educacionais – conversar a respeito de diversidade, preconceito, discriminação e desigualdade com crianças, só quando estiverem mais crescidinhas (o que varia de acordo com a percepção de cada um). Geralmente pensamos que crianças pequenas teriam mais dificuldade em entender estes assuntos complexos ou então somos movidos pelo desejo de poupá-las da exposição às injustiças o máximo possível (embora nem sempre seja possível). No entanto, crianças têm uma forte consciência em relação à justiça e notam diferenças sem desculpas ou desconforto.
A psicóloga Kristina Olson, em um texto publicado em 2013 no site Psychology Today, nota que por volta dos 2 ou 3 anos de idade começamos a ter consciência de que meninos e meninas possuem algumas diferenças e a notar deficiências físicas mais aparentes. Também começamos a ficar mais curiosos a respeito da cor da pele e da textura dos diferentes tipos de cabelos. Alguns de nós, inclusive, já podemos ter ciência da própria identidade étnica. De qualquer forma, aos 5 anos já nos identificamos com o grupo étnico a que pertencemos e somos capazes de explorar a gama de diferenças dentro e entre diferentes grupos étnicos.
Em termos de preconceitos, conforme sugere uma pesquisa de Harvard, noticiada pelo jornal Boston Globe em 2012, crianças de 3 anos quando expostas a preconceito e racismo, tendem a aceitá-los, embora ainda nem compreendam o sentimento. O já citado texto da Dra. Olson, nos traz ainda a informação de que crianças brancas de 3 e 4 anos dos EUA, Canadá, Austrália e Europa, mostram preferência e se sentem mais à vontade com outras crianças brancas do que com crianças de outras etnias.
A importância de conversar “assuntos sérios” com crianças transcende a questão dos preconceitos raciais, de gênero ou religião. É importante que os adultos tenham a consciência de como agir com as crianças que fazem parte de suas vidas. Perpetuar a ideia na criança de que devemos ser “daltônicos” para diferenças raciais ou a calar quando percebe alguém com uma deficiência física, não é a melhor opção. É preciso incentivá-la a notar diferenças (mesmo porque ela já o faz naturalmente), mas ao mesmo tempo, honrar as identidades das pessoas sem julgar ou discriminar com base nessas diferenças.
Sei que não é fácil, muitas vezes nós adultos temos certos desconfortos em falar de diferenças – nem sempre por preconceito, mas muito por receio de parecer tendencioso ou mesmo discriminador. Mas há alguns caminhos que podem facilitar esse trabalho e quem sabe, tornar o mundo um lugar mais seguro de se viver no futuro (escrevo este texto sob o impacto do horror dos acontecimentos em Orlando). Vamos a eles:
- Use a literatura como seu “cobertor”
Há uma enormidade de riqueza nos livros infantis, que pode ser usada para abordar o tema do preconceito, diversidade e justiça social. Há diferentes narrativas que trazem histórias sobre pessoas que são diferentes das suas crianças (em pedagogia, são conhecidos como livros de janela), narrativas para afirmar sua identidade (chamados de livros espelho) ou aquelas que expõem o preconceito ou compartilham histórias de pessoas que se levantaram contra injustiças. A leitura de livros, embora muito esquecida hoje, é uma parte essencial na formação do pequeno ser-humano e, portanto, uma maneira perfeita para abordar o tema. Como exemplo, sugiro o site da Anti-Defamation League, uma organização judaica criada em 1913 para combater o antissemitismo. Quem souber de organizações em língua portuguesa que promovam a conscientização através da leitura, por favor compartilhe.
- Use as notícias do dia a dia como temas
Vivemos no mundo da informação. Há inúmeras fontes delas, em diferentes plataformas. Não é difícil encontrar reportagens relevantes que destaquem abordagens preconceituosas ou mostrem alguém que se levantou contra uma injustiça e prevaleceu. Muhammad Ali, que faleceu no início do mês, pode ser um bom exemplo para comentar a respeito, tanto em relação aos seus pontos fortes (defesa da igualdade racial e religiosa), quanto suas falhas (como no tratamento que deu ao adversário Joe Frazier).
- Dê exemplos familiares
Tire vantagem do interesse das crianças em livros, programas de TV, brinquedos e jogos eletrônicos e os use como oportunidades para explorar a diversidade, preconceito e noções de justiça. A ideia aqui é estar atento ao que pode fornecer abertura para relacionar a realidade delas com a da sociedade em que vivem.
- Explore problemas e soluções
Ajude suas crianças a repensarem conceitos para explorarem possíveis soluções mais adiante. Por exemplo, o conceito “ajudar os outros” pode ser uma boa ponte para incluir discussões sobre desigualdades, o que contribui para o problema e que ações se pode considerar para resolvê-lo. Se você acha que são temas difíceis de se “trabalhar”, dê uma olhada no livro “Comprehension and Collaboration”, dos autores Stephanie Harvey e Harvey Daniels. Lá existem dicas excelentes de como combinar pesquisa, organização do pensamento e colaboração em grupo e aplicar consistentemente no processo de aprendizado de crianças.
Por fim, creio que a dica principal é começar cedo. Sei que criar um ser-humano não é tarefa fácil. Tem sempre alguém que acha que sabe mais do que os próprios pais e é muito conveniente ficar dando dica quando não se tem que dar banho, comida, levar para a escola, buscar, etc. Mas como diz um provérbio africano, “é necessária uma vila inteira para educar uma criança”. Esta é a singela contribuição de um morador.
O efeito Facebook e a diversidade
junho 6, 2016 § Deixe um comentário

Há alguns anos comprei um boné do time de baseball New York Yankees na loja virtual do clube. Nos meses seguintes, toda vez que navegava pela internet, os Yankees estavam ao meu encalço no canto da tela do navegador. Era um bastão assinado pelo Derek Jeter, um anel, uma toalha, camisas mil. Havia sido classificado e recebido um perfil: fã dos Yankees.
O mesmo acontece com os livros que compramos, sites que visitamos, música que ouvimos, filmes que assistimos e ideias que apoiamos. Tudo o que fazemos na rede é reforçado e validado, nunca desafiado. Esta é a realidade ao usarmos a rede social, em particular e a internet, em geral. Os algoritmos usados para analisar nosso comportamento buscam personalizar e customizar nossos gostos e não os contestar.
No final da década de 1980 e início da de 1990, a marca de roupas Benetton usava como slogan a frase “United Colors of Benetton”, em que pregava a diversidade. Hoje, as “cores” propagandeadas pelo nosso comportamento reduziram o interesse de boa parte dos usuários do ciberespaço a um tom apenas. O psicólogo Jonathan Haidt, autor de um excelente estudo a respeito de uma das mais antigas características da sociedade, o tribalismo (o estudo foi publicado no livro “The Righteus Mind”) chama o processo de exacerbação desta característica de “Efeito Facebook” – “Facebook Effect” no original.
Ao se tomar consciência deste processo, vem a inevitável questão: como se livrar desta armadilha online?
O jornalista Marc Dunkelman, em seu interessante livro “The Vanishing Neighbor”, explora a interatividade social e seus efeitos em como, com quem e com que frequência nos comunicamos. Utilizando uma metáfora baseada na classificação dos anéis de Saturno (o planeta possui um complexo sistema de anéis, divididos em 3 níveis – interno, mediano e externo), o autor os relaciona com a proximidade dos relacionamentos de um indivíduo: o “anel interno” seria formado por aqueles como quem temos mais proximidade e os “anéis” “medianos” e “externos” representando conhecidos menos familiares e casuais. Dunkelman documenta uma dramática mudança cultural, onde a maior atenção dispensada por uma pessoa é dada aos membros dos “anéis” “internos” e “externos” em detrimento dos relacionamentos do nível mediano – aqueles com quem temos mais ou menos intimidade, mas que formam a maior variedade dos nossos conhecidos. Esta mudança atinge diretamente o que se convencionou chamar de “networking”, enfraquecendo a rede de contatos de uma pessoa e criando uma linha divisória que intensifica a polarização, uma vez que nos comunicamos mais com quem temos afinidade – os “internos” e com quem conhecemos apenas casualmente – os “externos” (as “conexões” ou “seguidores” das redes sociais). Como consequência, acabamos convivendo em um ambiente mais homogêneo e menos desafiador intelectualmente.
Bom, se a internet está desenhada a entregar mais do mesmo (qualquer que seja o mesmo), para se ter acesso à sua inesgotável diversidade, é necessário variar. Quanto mais abranger os seus interesses, mais possibilidade a pessoa tem de entrar em contato com ideias diferentes, trocar experiências (fortalecendo relacionamentos do nível mediano) e aumentar suas referências (facilitando a conexão do conhecimento).
O desafio que se coloca vai além de um feed não equilibrado de notícias ou do algoritmo de algum site. Trata-se de combater um tribalismo que existe há tanto tempo quanto a humanidade e que agora tem se enraizado no solo fértil da internet – o tornando nem tão fértil assim. Inovação vem da diversidade de ideias e do conhecimento que elas geram. Entrar em contato com elas, é responsabilidade de cada um individualmente. Uma frase que ouvi há vários anos marcou minha relação com a diversidade e com o conhecimento como um todo: “é preciso ter a consciência de que Shakespeare não virá até você, você é que precisa ir até ele”.
O caso Gawker e a democracia
junho 1, 2016 § Deixe um comentário

Gawker é um site de fofocas, cujo slogan maroto é “a fofoca de hoje é a notícia de amanhã”. Seus posts, focados em celebridades e poderosos de todas matizes, provocam tanto indignação quanto tráfego ao site. Em 2012 publicou trechos de um vídeo sexual envolvendo o ex-lutador Hulk Hogan. O ex-lutador, indignado, processou o site por invasão de privacidade, ganhou a causa e o direito de receber cerca de US$ 140 milhões por danos à imagem. O criador do Gawker, Nick Denton, alega que a condenação os levará à falência e insiste no seu direito de publicar fatos que considera relevantes e de interesse jornalístico para a sociedade.
Peter Thiel é um dos fundadores do PayPal e um dos primeiros investidores do Facebook (faz parte do board da rede social). Em 2007, o mesmo Gawker publicou um pequeno post com o título “Peter Thiel é totalmente gay, pessoal”, causando furor e indignação de boa parte da comunidade tech e em especial do próprio Peter Thiel, que se sentiu extremamente ofendido. Em maio de 2016, descobriu-se que Peter Thiel contribuiu com US$ 10 milhões para as custas do processo de Hulk Hogan contra o Gawker.
O que o site fez com Hogan e Thiel foi deprimente, mas é preciso olhar a situação em perspectiva. Apesar de ser uma nova mídia, o Gawker é herdeiro direto da crença surgida no século XVIII de que o direito do público à informação é superior ao direito individual à privacidade. Também é herdeiro da prática democrática de causar desconforto aos poderosos – merecendo eles ou não o desconforto – como forma de atenuar e balancear o poder. Devemos lembrar que esta prática surgiu em decorrência das revoluções que destruíram o absolutismo, que por sua vez mostrou à humanidade que o poder absoluto corrompe de maneira absoluta. Foi esta crença também que criou o conceito moderno de democracia e o sistema de freios e contrapesos, que é um dos sustentáculos do Estado democrático de direito.
Muita gente boa acha que o Gawker tem mais é que acabar mesmo – como mostra este debate no twitter – inclusive o próprio Peter Thiel, que classifica sua ajuda às custas do processo como um caso de filantropia. Apesar de admirar o Thiel e em especial o seu ensaio publicado em 2009, sob o título “The Education of a Libertarian”, não posso relevar que neste mesmo texto ele declarou “eu não acredito mais que liberdade e democracia sejam compatíveis”.
Muita gente boa também “esquece” que o Gawker foi um dos primeiros veículos de comunicação a publicar posts a respeito da conta secreta de e-mail da Hillary Clinton, dos abusos sexuais praticados pelo humorista Bill Cosby e da contribuição de Hollywood ao fortalecimento dos abusos a mulheres, antes mesmo da “grande mídia” se interessar pelos assuntos.
A democracia moderna é um processo que ganhou impulso a coisa de 300 anos, é muito recente na história da humanidade (para uma visão geral da história da democracia, cheque este link). O significado de uma “imprensa livre” vai além de titãs como The New York Times, abarca todo tipo de publicação, inclusive tabloides e sites como o Gawker.
Estes últimos, causam tanto desconforto nos ditos mais esclarecidos porque refletem a sociedade em que vivemos do triunfo da cultura da celebridade e da imagem em detrimento do conteúdo. O filósofo René Girard, que desenvolveu de maneira mais extensa o conceito do “mecanismo do bode expiatório”, mostra o quão facilmente atribuímos a uma única pessoa (ou instituição) a causa de todos os nossos problemas (que na maioria das vezes são frutos das nossas próprias falhas). O Gawker foi transformado no “bode expiatório” da vez, mas seu desaparecimento por este motivo (e não pela sua falta de qualidade) causaria um mal irreparável à percepção atual em relação à democracia: a de que é aceitável calar vozes que nos incomodam.
A era das inovações
maio 23, 2016 § 1 comentário

Creio de que há pouca disputa em relação à crença de que a inovação está diretamente ligada ao crescimento econômico. Os defensores desta tese ganharam este ano um pouco mais de estofo em sua argumentação. Trata-se da excelente pesquisa feita pelo economista Robert J. Gordon, publicada sob o título “The Rise and Fall of American Growth”. Nela, Gordon analisa o constante fluxo de inovação que revolucionou o modo de vida do mundo no espaço de meros 100 anos – de 1870 a 1970. Aborda também os motivos pelos quais esse fluxo se arrefeceu entre os anos 1970 e 2016, apesar da sensação trazida pelas inovações digitais das 2 últimas décadas.
Como o título do livro sugere, a pesquisa foi feita com base na história e experiência dos EUA. Um dos motivos, é o fato do período analisado marcar também um dos períodos com maior registro sociológico da humanidade e em particular, dos EUA. A popularização da imprensa é uma das razões para tal. Outro motivo, é o fato do período marcar também a ascensão do país como superpotência, com influência marcante no modo de vida do restante do mundo. Isto é inclusive o que faz o livro transcender a análise local e poder ser utilizado – obviamente fazendo as devidas correções e concessões a diferenças culturais e de desenvolvimento local – como um “retrato” do impacto das inovações no desenvolvimento da humanidade no período. Os saltos de 50 anos da análise, também contribuem para colocar em perspectiva as informações apresentadas. Nas próximas linhas, tentarei dar uma visão resumida do que o livro traz em 780 páginas. Chamo a atenção para o fato de não pretender resenhar o livro, apenas compartilhar minhas impressões e entendimentos.
1870
Com o fim da Guerra Civil, os EUA buscaram se reconstruir com base na integração. O grande marco foi a construção da primeira ferrovia intercontinental, que ligou as grandes cidades do Leste à Califórnia e, diga-se de passagem, também a milhares de pontos pelo caminho. Comparada com os padrões atuais, a vida da época era extremamente difícil. As casas eram iluminadas por velas ou óleo de baleia, apenas ¼ da população vivia em grandes cidades e a dieta era à base de carne de porco.
A razão pela qual os norte-americanos davam preferência ao porco se devia ao fato de serem animais que vivem em praticamente qualquer lugar (ao contrário dos bovinos, que demandam largas extensões de pasto) e sobrevivem facilmente com restos de comida. Além disto, a carne ao ser salgada ou defumada, podia ser preservada por um longo período. Como não existia refrigeração na época, raramente se produzia vegetais frescos (como alfaces), se dava preferência aos que podiam ser armazenados como abóboras, batatas e feijões. A única fruta largamente consumida era a maçã. Muito pelo fato de ser transformada em cidra ou brandy (uma espécie de conhaque).
Fazendo uma rápida comparação com o Brasil, não estávamos muito atrás. Foi o período final da Guerra do Paraguai e de uma inicial industrialização, muito por conta de iniciativas individuais como a do Barão de Mauá, mas que em certo momento foram “brecadas” pelo imperador – afinal eramos uma sociedade agrária. Nossa força de trabalho era escrava, o que não contribuía para a formação de um mercado consumidor. Pelo menos no quesito da dieta, a nossa era mais rica em termos de proteínas, vegetais e frutas.
A grande inovação do período foi o banheiro moderno. A criação da toalete (mais conhecida entre nós como privada) foi a força motriz da construção dos primeiros sistemas de águas e esgoto, que embora jogassem os dejetos diretamente em rios e mares, começou a contribuir para a percepção da importância sanitária na preservação da saúde. Também há a mudança da matriz de transportes, de cavalos e charretes para trens e embarcações à vapor. Isto permitiu, nos EUA, a criação de um incipiente mercado consumidor nacional, além de contribuir para a melhoria da qualidade de vida nas cidades – levando em consideração que um cavalo produz 20 kg de fezes e mais de 3 litros de urina por dia, o impacto não foi pequeno.
Em tempo, no período, a circulação de jornais alcançava 2,5 milhões de pessoas em uma população de cerca de 40 milhões.
1920
Com o final da I Guerra Mundial e com a Grande Depressão ainda por vir, o período marcou um salto enorme em relação aos 50 anos anteriores. As casas se tornaram mais “conectadas”. O sistema elétrico provia iluminação – sem gerar fumaça – redes urbanas mais robustas proviam água limpa em abundância e um sistema aprimorado de esgoto levava o cheiro e os dejetos para longe de boa parte da população. Os telefones já eram largamente utilizados e permitiam a comunicação em longa distância.
As inovações não foram apenas tecnológicas, mas urbanas. As grandes cidades receberam a classe trabalhadora, que pôde contar com apartamentos a preços acessíveis – também eram permitidos a construção de pequenas casas por conta própria. Em Chicago, por exemplo, a loja de departamento Sears vendia um “kit” de materiais pré-fabricados que permitiam a construção de uma casinha em 356 horas de trabalho manual. É claro que não existiam leis ambientais ou departamentos para supervisão urbanística (um levantamento mostrou que cerca de 40% das construções existentes em Manhattan não seriam permitidas pela legislação americana atual).
O número de hospitais cresceu de 120 em 1870 para 6000 em 1920 e a medicina se tornou mais uma ciência do que curandeira, com inúmeras especializações. Embora inovações na área ainda estivessem por vir, como os antibióticos, apenas a popularização dos serviços de águas e esgotos melhorou em 5 vezes a taxa de mortalidade.
Outra revolução foi nos transportes, o veículo automotivo começava a sua caminhada revolucionária, pulando de 8000 em 1900 para 23 milhões em 1929. Trens, bondes e metrôs reduziam distâncias e facilitavam a vida de quem morava nas cidades. Uma viagem de trem de Nova York a Chicago passou de 38 horas em 1870 para 24 horas em 1920 e 16 horas em 1940.
Foi também o início da era da comida processada e das geladeiras (eram chamadas de “icebox”). Estas duas inovações revolucionaram o modo de vida das pessoas, que começaram a ter disponíveis vegetais frescos durante o ano todo. Para efeito de comparação, o “café da manhã” típico em 1870 era composto de carne de porco e polenta, em 1920 era corn flakes (o nosso sucrilhos) e suco de laranja. Apesar disto, a “cozinha” da época não seria reconhecida nos nossos dias, não existia máquina de lavar (louça ou roupa) e as tomadas não possuíam modelo padrão. Mas, o cachorro-quente já era popular (foi criado em 1900 em Coney Island – Nova York) e o hambúrguer estilo americano dava seus primeiros passos, graças à forte imigração alemã.
O mercado consumidor já era bem desenvolvido, com cadeias de lojas que existem até hoje. Mas a grande inovação do varejo foram os supermercados. Outra grande inovação foi a entrega de encomendas via correios. Em 1900, apenas a Sears já recebia cerca de 100 mil pedidos por dia e seu catálogo de produtos vendia quase de tudo (não é à toa que o e-commerce se desenvolveu rápido em uma sociedade já acostumada a fazer negócios por via não presencial).
Outro fator de inovação foi a informação, não eram entregues apenas produtos na porta das casas americanas, jornais também. De 1910 a 1930, uma residência típica recebia em média 3 jornais diários. A era da informação eletrônica ainda não havia iniciado em 1920, mas a primeira estação de rádio “abriu as portas” neste mesmo ano e em 1923 já eram cerca de 550. Além disto, o fonógrafo já era largamente popular e o cinema, um sucesso absoluto, com quase o dobro de espectadores semanais do que hoje (levando em conta uma população relativamente menor).
1970
Muitas das inovações que começaram por volta de 1920 já eram parte fundamental da vida diária em 1970. Principalmente nas áreas de transporte e comunicações. Viagens aéreas já eram bem mais comuns e deixaram para trás as viagens transcontinentais de trem – fazendo em algumas horas a distância que era cruzada em vários dias. Para muitos, as viagens de avião nos anos 1970 eram mais prazerosas, com bebidas e comidas de alto nível sendo oferecidas e cadeiras bem mais espaçosas do que as atuais – verdade seja dita, alguns destes mimos sobrevivem até hoje, chama-se primeira classe. Eram tempos de viagens supersônicas, via Concorde, que possibilitavam quem podia pagar, almoçar em Paris e jantar em Nova York no mesmo dia.
Os carros também traziam inovações futurísticas se comparadas com os modelos de 50 anos antes. Em 1920, o Modelo T da Ford tinha que ser ligado à manivela. Em 1970 o Ford Mustang chegava à 100 km/h em questões de segundos e era equipado com rádio e ar-condicionado.
O ar-condicionado, inclusive, é uma inovação revolucionária a seu modo. Lançado pela primeira vez em 1923, ao longo de meio século impulsionou o aumento da população em cidades de clima quente. As casas norte-americanas tornaram universais tecnologias já populares, como energia elétrica (presente em 100% delas) e água corrente (em 98% delas). Geladeiras também atingiram os 100% de presença em 1970, com a sua qualidade muitas vezes superior às da década de 20 e preço muitas vezes inferior.
A dieta também mudou. Os norte-americanos consumiam bem menos porco e bem mais galinha e peru. A quantidade de vegetais frescos também diminuiu a medida em que diminuiu o número de pessoas morando no campo. As grandes cidades davam preferência à legumes em conserva e enlatados. Margarina substituiu a manteiga. Os supermercados passaram a ocupar mais espaço, criando os hipermercados. Para efeito de comparação, um supermercado em 1920 estocava cerca de 600 itens, em 1950 por volta de 2200 e em 1985 mais de 17000.
A comunicação em massa mudou radicalmente a forma de diversão das pessoas. Enquanto em 1920 as opções eram fonógrafo e cinema-mudo, em 1970 já haviam TV a cores, rádio e filmes com sons épicos nos cinemas. Os canais de TV, aliás, sem a concorrência nem do videocassete, batiam recordes e mais recordes de audiência.
2016
Aviões e automóveis ficaram mais seguros e rápidos. Inovações incentivadas pela melhoria da segurança são as grandes mudanças nos transportes: cintos de segurança, air-bags, legislação mais pesada contra abuso de álcool e restrições à cigarros ajudaram a salvar vidas, mas aviões maiores, assentos menores, máquinas de raio-x e procedimentos de embarque tornaram a experiência de voar mais frustrante – em 1940 era possível chegar 10 minutos antes de um voo, comprar passagem e embarcar. No quesito alimentação, o consumo de vegetais e frutas frescas voltou a aumentar, assim como o acesso a culinárias de diferentes culturas modificou os hábitos alimentares de milhões de indivíduos ao redor do mundo.
De 1970 para cá, a grande inovação em termos de eletrodoméstico foi o micro-ondas. Os demais tiveram alterações bem triviais, como mais eficiência aqui, um ganho ergonômico ali, menos necessidades de reparos. A verdade é que uma casa dos anos 1970 funcionava de forma bem parecida com uma de 2016. Ninguém se acharia colocado em um mundo diferente se por acaso trocasse de época.
Quer dizer, se não fosse colocado em frente a um computador. As grandes inovações nos últimos 46 anos se deram na tecnologia da informação e do entretenimento. O cliché da TV ir de 3 canais a 300 não conta toda a história. Os próprios aparelhos de TV passaram de 19 a mais de 50 polegadas e com uma definição de imagens que as tornam quase vivas. Filmes e programas estão disponíveis a qualquer hora, por meio de streaming e on-demand, tornando a “emissora de TV” quase irrelevante.
E tem também a internet. O impacto dela, apesar de ainda não ter sido completamente explorado e entendido, vai além de disponibilizar toda a produção notável da humanidade em termos de informação, literatura, arte-visual e plástica. O acesso portátil colocou este “poder” nas mãos de cada indivíduo dotado de smartphone e vem alterando a maneira como o ser-humano se relaciona com o conhecimento e entre si. Entrar em contato com parentes e amigos em lugares distantes também já não é tão problemático – Skype e FaceTime deram outra dimensão ao ato de “falar ao telefone”.
Como conclusão, pode-se dizer que as pessoas vivem e viajam tanto quanto poderiam há 40 anos. Comemos mais variedades de comidas e há mais consciência em relação ao impacto individual e coletivo no planeta. Produtos de todos os tipos ficaram melhores, mais seguros e eficientes. Mais ainda fica a questão em relação ao que se fará com o poder trazido pelos supercomputadores que carregamos em nossos bolsos e bolsas e se a era das inovações iniciadas em 1870 continua a “todo vapor” ou se perdeu impulso.
A programação é a nova alfabetização
maio 17, 2016 § Deixe um comentário

Este mês, completa um ano que comecei a programar. Meu início foi com uma das linguagens mais populares, Ruby, em um ambiente de desenvolvimento online chamado Cloud9. Nestes 12 meses, passei por outras linguagens (Python, outra preferida dos programadores) e montei meu próprio ambiente de programação local (quer dizer, em meu computador). Hoje estou “envolvido” com a linguagem R (é uma linguagem de programação estatística, usada bastante em Data Science).
Neste “meio tempo”, “devorei” o que encontrei pela frente em termos de conceitos, referências (livros, vídeos e pessoas) e filosofias para definir o meu próprio entendimento sobre o assunto. Quem se interessar, ou invés de começar por algum livro, manual técnico ou então por raciocínio lógico e lógica de programação, sugiro se inteirar em relação às filosofias que envolvem a programação computacional. Um livrinho bem bacana neste sentido é o do autor Douglas Rushkoff, professor de teoria da economia digital da City University of New York, “Program or Be Programmed”.
Quando se diz que a programação é a nova alfabetização, não se está insinuando que ela deva substituir o que chamamos de alfabetização hoje, mas sim se incluir no conceito. Não se engane, alfabetização é um conceito, que envolve as habilidades básicas que todo ser-humano deveria dominar para se inserir na sua sociedade.
Este conceito vem sendo desenvolvido desde o século XII, quando a habilidade da leitura começou a ganhar importância. No século XVI, recebeu a companhia da escrita e criou a base do modelo mental que temos de alfabetização. Mas como todo conceito, evolui. No século XVIII recebeu a adição da aritmética e no século XX, a da habilitação automotiva (sim, a carteira de motorista tem este status em boa parte dos países do mundo). No século XXI, chegou a vez da programação computacional ser incluída neste entendimento.
John McCarthy, o inventor da linguagem Lisp e a pessoa que cunhou o termo “Inteligência Artificial”, dizia que uma pessoa deveria aprender a programar para poder “falar com os servos”. Apesar do termo politicamente incorreto, McCarthy se referia ao fato de cada vez mais os seres-humanos gerenciarem máquinas (os “servos”) e as máquinas, ainda hoje, só conseguem fazer o seu trabalho se o ser-humano disser, especificamente, o que e como elas devem fazer. É preciso dar instruções claras. A maneira de se fazer isto, é pela programação computacional.
Desta forma, programar não é mais uma habilidade-nicho (que apenas uma determinada profissão conhece), é uma habilidade essencial para qualquer pessoa com ambição em obter sucesso. É tão importante, que várias organizações se propõe a ensinar programação básica de graça. CodeAcademy, edX e Free Code Camp são alguns exemplos. Vários cursos básicos já são oferecidos em português, graças ao trabalho voluntário de algumas pessoas, mas a maioria dos gratuitos ainda é em inglês.
É claro que aprender a programar não é simples. Há inúmeras dificuldades – principalmente se quem estiver aprendendo já vier com uma baixa formação em matemática e raciocínio lógico – mas se alfabetizar não é simples. É sabido que algumas condições podem se somar aos obstáculos comuns que todo aprendizado traz, por exemplo, dislexia dificulta o aprendizado da leitura e discalculia torna o aprendizado matemático muito mais penoso. Mas é importante deixar claro, que é cada vez mais consenso entre educadores e cientistas cognitivos, que qualquer pessoa que esteja no domínio de suas faculdades mentais, pode aprender a programar – assim como pode aprender a ler, a escrever, a fazer conta e a dirigir. A Khan Academy disponibiliza um vídeo sobre a importância de se manter uma mentalidade de crescimento, essencial para aprender qualquer coisa.
Não se propõe que todo mundo vire desenvolvedor de softwares. O fato de alguém aprender a escrever, por exemplo, não significa que a pessoa se tornará uma escritora ou alguém que aprenda aritmética se tornará um matemático profissional. Mas todos que sabem escrever ou conhecem aritmética, se tornam mais habilidosos para caminharem pelas próprias pernas na “luta” pelo pão de cada dia.
Minha experiência neste último ano me mostrou coisas novas, coisas que havia esquecido e principalmente, me possibilitou começar a desenvolver uma habilidade que nunca considerei que pudesse me trazer tanto conhecimento. Meu conselho é: aprenda a programar, aprenda a falar com as máquinas, você não vai se arrepender.
Deu no New York Times
maio 11, 2016 § Deixe um comentário

Redação do NYT ao anunciarem os ganhadores do Pulitzer. Photo by Hiroko Masuike/The New York Times.
Uma das minhas lembranças mais antigas é dos meus pais e tios discutindo os assuntos correntes do momento ao redor da mesa, nas reuniões de família. Uma das frases mais ouvidas – e que trazia credibilidade ao assunto – era a que está no título deste texto. Em meados dos anos 1990, meus pais proporcionaram um dos maiores presentes a um aficionado por conhecimento como eu, uma conexão à internet.
Desde este dia até mais ou menos o ano de 2012, adquiri o habito de visitar diariamente o site da publicação e ler gratuitamente os artigos que mais me interessavam. Em 2012, o jornal, que passava por uma das maiores crises financeiras de sua história, lançou seu serviço de assinatura online. Iria cobrar por algo que entregava de graça até aquele momento. Lembro de ter, ingenuamente, pensado “quem vai pagar para ler uma reportagem na internet? ”. A resposta veio alguns dias mais tarde quando atingi o limite gratuito de 10 artigos. Assinei o jornal e mantenho meu hábito ainda hoje.
Em 1995, o Times – como é carinhosamente chamado – tinha 1,5 milhão de assinantes da sua edição impressa. Hoje, já são 2,5 milhões somadas as duas formas de assinatura. Somente com os assinantes online, o jornal fatura U$400 milhões anuais. O impacto da rede de assinantes já se faz sentir no próprio modelo de negócio da empresa, os anunciantes – antes tidos como o grande foco do planejamento de venda do negócio – perderam preponderância nas finanças do jornal. Em 2016, cerca de 90% das receitas do New York Times são atribuídas à 12% do total de leitores do jornal (sua base de assinantes).
Sendo um entusiasta do jornalismo independente, fico feliz com a mudança de enfoque da relação financeira de uma grande publicação, dos anunciantes para os seus leitores. Clarifica a missão da empresa e ajuda a priorizar o gasto dos seus recursos no que é realmente importante.
Recentemente, o editor-chefe da Bloomberg reclamou que as empresas jornalísticas se “alimentam de migalhas do Facebook”. Se referia ao fato da rede social ganhar rios de dinheiro em anúncios, utilizando feed de notícias de publicações externas para aumentar o tempo de conexão de seus usuários no site, sem gastar um tostão na criação daquele conteúdo.
Entendo a frustação, mas vejo o fato de outra maneira. Há dois caminhos quando um negócio enfrenta a disrupção trazida pela internet: pode reclamar e tentar, sem sucesso, manter as coisas do modo anterior ou pode abraçar a mudança e a utilizar a seu favor. O Facebook é um fato da vida, não é ignorado por ninguém ao redor do mundo e é hoje, a plataforma mais valiosa para qualquer empresa, de qualquer setor, entrar em contato com o seu cliente potencial.
O New York Times utiliza o Facebook principalmente para “acessar” leitores que admiram o jornal e os estimular a se tornarem assinantes. Ao lançar a sua edição em espanhol, a empresa utilizou funções criadas por cientistas de dados (para quem não está familiarizado com o termo, uma função é um algoritmo estatístico escrito para “ler” dados brutos) em conjunto com o Facebook para “encontrar” dentre os milhões de nativos de língua espanhola que acessam diariamente a rede social, leitores – e possíveis assinantes – para a edição na nova língua.
Ao focar a missão do seu negócio em seus leitores e produzir grande jornalismo, o Times abraçou a internet como aliada ao invés de ameaça, e deixou de lado a “briga” por anunciantes com o Facebook. Este ano, a publicação teve 2 vencedores – e 10 finalistas – do prêmio Pulitzer (mais finalistas do que qualquer outra empresa de notícias no mundo).
Penso ser mais do que hora de se encarar a internet com a responsabilidade necessária e dar a devida atenção à sua real natureza: é um serviço público essencial, como rede de água e esgoto, e deve ser disponibilizada à população da mesma forma como os outros serviços essenciais. Em tempos em que se proliferam propostas como a da Anatel, de limitar o serviço oferecido, o exemplo do New York Times é uma demonstração da importância da web como ambiente de negócios ao redor do mundo. Ficar para trás, mais do que atraso, é uma irresponsabilidade na condução de uma política pública. Em relação à internet, o melhor caminho é, como o slogan do próprio Times aponta: Go Inside.
Eu acho que…
maio 4, 2016 § Deixe um comentário

Em um artigo publicado em 2014, Microaggression and Moral Cultures, os acadêmicos Bradley Campbell e Jason Manning identificam uma mudança na postura de algumas universidades, que ao invés de “celebrarem” a liberdade de expressão passaram a defender uma espécie de “cultura da vitimização”, pressupondo que as pessoas são inerentemente frágeis e, portanto, deve-se evitar falar algo que possa ofendê-las. Essa postura foi fortalecida pelo que ficou conhecido como “politicamente correto”.
O “politicamente correto” também incentivou a popularização da frase “eu acho que”, muito comum aos ouvidos “mais atentos”. Assim como frases similares em outras línguas, como a inglesa “I feel like”, “eu acho que” traz um paradoxo embutido. Ao “mascarar” uma afirmação como uma “humilde opinião”, ela atua como “coringa” bloqueando argumentações contrárias, porque traz implícito que o emissor não tem tanta experiência (pois apenas “acha”) ao mesmo tempo que reforça opiniões semelhantes. Atua como um “escudo” imediato de quem a usa.
Em tempos de polarização, é entendível que as pessoas queiram se resguardar, mas uma das grandes conquistas da era contemporânea (pós revolução francesa), foi a habilidade de argumentar sem resultar (na maioria das vezes) em violência física. É a premissa do “conflito civilizado”, embutido na democracia moderna. Ao mascarar o conflito, “eu acho que” reprime debates e “alimenta” todo tipo de “achismo”, desde como organizar uma educação pública de qualidade até quem apoiar como candidato à presidência. Atua como uma espécie de coerção da esfera pública e privada. A verdade é que “achismo” não gera proposta.
Em seu artigo publicado em 1946, “Politics and the English Language”, o escritor George Orwell escreveu a famosa frase “se o pensamento corrompe a linguagem, a linguagem também corrompe o pensamento”. No texto, Orwell se preocupa com o efeito da linguagem em nossa habilidade de pensar. Não se trata somente em ter todos os pontos claramente definidos, mas sim em ter, “para início de conversa”, um ponto que valha a pena ser proposto. Isto demanda formular ideias equipadas com o melhor “arsenal” possível em termos de ordem, alcance e precisão. Ao usar “eu acho que”, todo este arsenal é “jogado fora”.
Orwell propunha que as pessoas, além de explicarem claramente o que queriam dizer, tivessem algo válido a ser compartilhado. Ele deixou duas dicas imbatíveis neste quesito:
1) tenha algo significativo para dizer – antes de dizer;
2) quanto mais clara for sua linguagem, melhor será o seu pensamento.
Usar “eu acho que”, diminui a substância do que uma pessoa quer falar. Ao imbuir o pensamento de subjetivismo, e tornar o subjetivismo um fim em si mesmo, menos expressivo o próprio pensamento se torna. Se alguém quiser realmente criar uma “estrutura” de pensamento crítico e criativo para si mesmo e desenvolver a habilidade de propor soluções aos problemas que aparecem no seu cotidiano, deve cultivar a arte da conversação. O primeiro passo é abandonar “vícios” verbais que possam influenciar maus hábitos.
Uma sugestão: na próxima vez em que participar de uma reunião de trabalho, discussão em sala de aula ou jantar em família, substitua “eu acho que” por “eu penso que” ou “eu acredito que” e veja a reação dos demais às suas ideias. Não devemos “achar”, devemos argumentar racionalmente, sentir profundamente e assumir a completa responsabilidade da nossa interação com o restante do mundo.
